PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – LEI 10.257/2001
(MANUAL BASICO PARA A POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA MUNICIPAL)
GERALDO MEDEIROS DE AGUIAR
ANALISTA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CORECON Nº 777
Fonte Google imagem fractal
RECIFE, janeiro 2010
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO – 3
I. INTRODUÇÃO – 6
A TEORIA DAS TRÊS ECONOMIAS – 8
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL – 17
O TEMPO E OS MOMENTOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO – 21
II. O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE? – 28
A ORIENTAÇÃO – 30
A METODOLOGIA – 34
A FORMULAÇÃO – 37
III. O QUE SÃO CADEIAS PRODUTIVAS, CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS? – 48
IV. RESUMO EXECUTIVO – 62
IDEIAS PARA UM PLANO DE GESTÃO – 62
OS COMPLEXOS INFRA-ESTRUTURAIS E INDUSTRIAIS DE BASE (CIIB) – 64
OBJETIVO SÍNTESE – 65
RESULTADOS PRETENDIDOS – 66
AMBIENTE GENÉRICO DE ABRANGÊNCIA – 67
ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS – 67
FONTES DE FINANCIAMENTOS – 68
OUTRAS CONSIDERAÇÕES – 69
TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO – 69
FERROVIA TRANSNORDESTINA – 72
CANAL DO SERTÃO – 75
O AUTOR – 80
APRESENTAÇÃO
O propósito do Autor é apresentar o Plano Diretor Participativo Municipal (Estatuto da Cidade – PDPM) como instrumento de resgate do planejamento estratégico, em nível local, com vistas ao planejamento estadual como parte compulsória e importante do planejamento nacional. Dando especial atenção em termos estratégicos às cadeias produtivas (CP) e aos arranjos produtivos locais (APL) envolvendo todas as esferas de governo: federal, estadual e municipal.
Sabe-se que o Estatuto da Cidade – PDPM é, em geral, produzido segundo as seguintes etapas:
• Leituras técnicas e comunitárias do município a partir da elaboração de diferentes mapas e consultas aos estudos existentes
• Formulação e compatibilização de propostas para temas prioritários com vistas ao futuro desejado do município
• Definição dos instrumentos que viabilizam as intenções, diretrizes e metas explícitas no PDPM para seu futuro desejado
• Sistematização da governança, da gestão e do planejamento estratégico situacional do município instituído de forma integrada, multissetorial e multifuncional. Deve, também, articular e conectar os programas e projetos do PDPM com as ações implementadas pelos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) no município.
Para o propósito, em epígrafe, o plano de trabalho do Autor, obedece além desta APRESENTAÇÃO os capítulos, a saber:
• Uma INTRODUÇÃO onde, de forma sinótica, se explicitam: como suporte teórico do trabalho a teoria das três economias, o resgate do planejamento estratégico situacional e a importância do Estatuto da Cidade para o desenvolvimento sustentável do Estado através das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais devidamente articulados aos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e as Cooperativas Incubadoras do PROMINC do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
• O segundo capítulo trata sobre: O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE? Nele se procede a uma visão do estado de arte dos PDPM, no Estado de Pernambuco e do divórcio da política desenvolvimentista com os PDPM já aprovados e consubstanciados em Lei Municipal. Ainda, nesse capítulo, se apresentam breves comentários sobre o Guia para elaboração do plano diretor participativo pelos municípios e cidadãos elaborado pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos, em 2004, e enviado a todas as prefeituras municipais do Brasil. Também, se procedem a breves considerações sobre a possibilidade de o Governador do Estado fazer valer, via SEPLAG, o PDPM como base compulsória do planejamento da Política de Desenvolvimento Sustentável no Estado envolvendo as conexões e articulações dos programas e projetos dos Governos: Federal, Estadual e Municipal
• O terceiro capítulo está voltado para O QUE SÃO CADEIAS PRODUTIVAS (CP), CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) e ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL)? Suas implicações na Política e Economia do Estado de Pernambuco
• RESUMO EXECUTIVO, que constitui o quarto capítulo, versa sobre a política de recursos humanos da Economia Solidária e da Política da Economia Pública face às cadeias produtivas e aos arranjos produtivos locais frente à Política Desenvolvimentista com base na Economia Capitalista Competitiva Excludente. Também, serão vistas as conexões dos PDPM com os principais projetos estruturadores do Governo Federal no Estado (Complexos Infra-estruturais e Industriais de Base) em termos de efeitos de montante (para trás) e de jusante (para frente) de cada projeto na economia e no meio ambiente do Estado.
Cabe explicitar, ainda, nesta Apresentação, o porquê de se defender o nível local do PDPM para a política de desenvolvimento sustentável no Estado?
A concentração e centralização do capital que se dão nos espaços dinâmicos do país e do Estado geram, em conseqüência, os espaços letárgicos que se observam tanto no Brasil como um todo quanto no Estado e, também nas suas Regiões de Desenvolvimento (RD) com seus respectivos municípios.
São os espaços dinâmicos que atraem o capital externo que é desprovido de qualquer obrigação e sentimento de investir para o desenvolvimento sustentável de uma RD e município que apresentam determinados aspectos de letargia. Portanto, todo e qualquer investimento privado de corporações nacionais e estrangeiras se dão e se concentram naqueles espaços que lhes podem proporcionar de imediato grandes rentabilidades, lucros e poderes.
Dentro dessa lógica do metabolismo do capital quais são as situações daqueles estados federados e daquelas regiões ou áreas programas e seus municípios?
Acentuam-se tendências de o Estado ou o Governo Federal transferir para os estados federados e municípios responsabilidades, cada vez maiores, nos campos da saúde, segurança social, educação, preservação do meio ambiente e esgotamento sanitário. Isso para viabilizar a sustentabilidade do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das comunidades submetidas às constantes crises econômica e financeira do sistema mundo capitalista. Essas implicam em desemprego e, às vezes total falta de ocupação para manter um nível mínimo de sobrevivência, para as comunidades pobres tanto da urbe quanto do agro que nos municípios evidenciam a intensificação da pressão social nas portas das prefeituras municipais. Essas, por sua vez, transferem parte das tensões para os governos estaduais que remetem para o Governo Federal.
Esses problemas, oriundos do metabolismo do capital, sem dúvida, demandam das instituições públicas, em todos os níveis de governos, uma sólida, eficiente e eficaz política de desenvolvimento sustentável local para atenuar e mitigar efeitos deletérios que venham a comprometer o desenvolvimento do local ao nacional.
Em seu conjunto, no axioma do processo de globalização, vence aquelas organizações obstinadas em caçar o lucro e o poder a qualquer preço em contraponto as da economia solidária que atua em função dos seus orçamentos, objetivos e missões. Aquelas que são mais bem administradas podem ter a perspectiva de agirem em função de seus planos diretores participativos com vistas a doar sustentabilidade ao desenvolvimento pretendido pela política do município devidamente articulada a do Estado e a do Governo Federal a partir dos seus respectivos planos plurianuais.
O presente trabalho remete o leitor e interessado a refletirem sobre um novo sistema de administração do desenvolvimento sustentável de base local que evite duplicações de papéis, de funções, de desperdícios, de ociosidade do capital social básico e dos serviços de desenvolvimento propiciados tanto na esfera pública quanto na privada. Está devidamente ajustado aos planos diretores participativos dos municípios por força da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade). É claro que essa nova forma de administração do desenvolvimento sustentável de base local exige liberdade, democracia racial e participativa com vista a levar às comunidades a tão sonhada democracia representativa que venha negar essa danosa plutocracia e cleptocracia nos três poderes do Estado Nacional em todos os seus níveis de representatividade (Nacional, Estadual e Municipal).
Com esse propósito unificador o novo sistema deve administrar as seguintes bases do desenvolvimento sustentável local:
• Fundiária
• Emprego, geração e distribuição de renda
• Produtiva rural
• Produtiva urbano-industrial
• Serviços de desenvolvimento
• Física, ecológica e eco turístico
• Educacional-cultural
• Uso do solo urbano e rural
• Infraestrutura social e econômica
• Ciência e tecnologia
• Política institucional-administrativa.
I. INTRODUÇÃO
O Estado de Pernambuco ocupa um território de 98.526,60 km² e está dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD). Essas RD constituem delimitações geopolíticas para investimentos do governo estadual com vistas a realizar suas ações de interiorização, garantindo eqüidade e desenvolvimento entre elas.
A concentração de Arranjos Produtivos Locais por RD está distribuída da forma que se vê no Quadro I elaborado pela SECTMA-AD-DIPER/SDEC e CONDEP-FIDEM.
QUADRO I – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE PERNAMBUCO, POR REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO E APL
Acredita-se que os idealizadores da regionalização, supra, preocupavam-se em responder: o que é e como se entende uma região para as ações multissetoriais e multifuncionais no Estado de forma espacializadas?
Assim, se aceita a hipótese que está imbricada à regionalização, em tela, pelo menos os seguintes atributos:
• Cultura em todas suas dimensões e saberes e unidade intertemporal de sustentabilidade
• Base de riqueza e razão do trabalho das comunidades municipais ou locais
• Sustentáculo do poder político local no Estado
• Sentimento, aspiração de bem-estar, equidade e fonte dos processos produtivos e de circulação dos bens e serviços, isto é, fonte de riqueza e trabalho.
Em decorrência dessa regionalização o Estado através de: suas secretarias executivas, autarquias e empresas estatais vêm atuando e buscando os atendimentos das necessidades básicas das comunidades locais ou municipais através de diferentes programas e projetos desconectados entre si. Neles se destacam os Centros de Vocacionais Tecnológicos (CVT) e os Arranjos Produtivos Locais (APL) cujas cadeias produtivas (CD) estão, ainda, desarticuladas e disfuncionais a um Plano de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Municipal.
Tanto isso é verdade que: os programas e projetos estaduais nas RD passam distante dos governos municipais e, também, dos Planos Diretores Participativos Municipais por força da Lei 10.257/01 conhecida como Estatuto da Cidade que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998.
Dessa forma os programas e projetos do Governo não conseguem superar as deficiências e dificuldades locais dos governos municipais que conformam cada uma daquelas 12 RD, particularmente, quanto às análises de oportunidades, das vantagens comparativas e das vantagens competitivas de cada município em particular.
Assim sendo, algumas das ações de desenvolvimento sustentável local desconhecem e tangenciam o princípio fundamental segundo o qual no Brasil e, conseqüentemente em Pernambuco, o município é a unidade territorial básica da estrutura de poder político-administrativa, social, econômica e ambiental para ações públicas, privadas e da economia social ou solidária. É no espaço geográfico ou território do município que se materializam e se realizam toda e qualquer ação de mudança e de desenvolvimento sustentável.
A TEORIA DAS TRÊS ECONOMIAS
Após esse breve introito sobre as RD do Estado apresenta-se no texto, a seguir, o suporte teórico metodológico do trabalho a partir da teoria das três economias que espacial configuram as estratégias de: legitimação social, acumulação de capital e de organizações e institucional-administrativa implícitas nos documentos oficiais sobre CVT e APL.
Nos conceitos básicos e clássicos da economia política buscam-se, também, apresentar um conjunto de idéias que possam conformar, para o Brasil e Pernambuco, um modelo autônomo de desenvolvimento sustentável que deve ser exaustivamente contextualizado e enriquecido pelo ledor.
Para tal propósito se procura situar a transformação dos espaços e das relações de produção e circulação das mercadorias (bens econômicos) e serviços no processo de mundialização ou globalização da economia brasileira a partir de três aberturas, janelas ou economias no sistema mundo do capitalismo.
Do ponto de vista da autonomia e da endogenia do desenvolvimento local sustentável, pode-se, grosso modo, estabelecer os seguintes pressupostos:
• Dimensionar as potencialidades internas do território
• Promover processos de inclusão social a partir do crescimento dos níveis de empregabilidade e de renda
• Promover, capacitar e treinar os recursos humanos com vistas à mobilização de suas virtualidades e habilidades para realizações empreendedoras
• Trabalhar para seu próprio desenvolvimento a partir de um esforço endógeno e autônomo de organização social
• Dimensionar a ociosidade dos recursos humanos e naturais e do capital social básico ou economias externas existentes.
Para tanto, há que se criar:
• Um processo de autonomia decisória local e comunitária
• Uma capacidade local de captação de recursos para investimentos em atividades produtivas e de serviços com consciência e ação ambiental
• Uma sincronia transdisciplinar, multissetorial e multifuncional no território com vistas à sustentabilidade das ações desenvolvimentistas
• Um sentimento de pertença ao território de forma individual e, principalmente, coletiva.
O saudoso cientista brasileiro Milton Santos sobre o presente tema lembra os seguintes problemas:
“1. Peso, na atividade agrícola, dos componentes técnicos e científicos; implicações quanto à organização da produção e quanto à composição orgânica do capital e do trabalho no campo, segundo diversos produtos.
2. Novas atividades industriais, incluindo agroindústrias, novas localizações industriais.
3. Mudanças territoriais da base produtiva e novas relações correspondentes; implicações quanto à repartição setorial da economia e do emprego e à estrutura territorial da produção.
4. Modificações recentes da rede de transportes (estradas-troncos, estradas vicinais), papel do tempo novo assim criado sobre o comportamento da economia e da rede urbana – modernização das comunicações; efeitos diferenciais segundo lugares e segundo estratos da população; jogo contraditório entre diversos fatores.
5. Financeirização do território, etapas de desenvolvimento da rede bancária e diversificação do setor financeiro, segundo número, nível e distribuição.
6. Tendências à concentração e centralização da atividade econômica e seu rebatimento territorial; impacto sobre a natureza, sobre a direção e sobre a intensidade dos fluxos.
7. Complicação dos circuitos de cooperação (definidos anteriormente); repercussões sobre a organização regional da rede de relações.
8. Novos papéis devidos às cidades segundo os seus níveis, através dos equipamentos e das relações que permitem”.
Consciente daqueles atributos e desses problemas, certamente a população de forma participativa pode e deve agir considerando a tese básica do modelo autônomo de desenvolvimento local sustentável fundamentada em três economias diferenciadas entre si:
• Economia privada capitalista competitiva e excludente, com ênfase no valor de troca e que atua em espaços dinâmicos sob a égide do FMI, do BIRD e da OMC
• Economia pública para controle das políticas econômicas, com vistas à gestão pública nacional via organizações estatais, privadas e da economia social (ONGs) tais como: Sistema S, PETROBRÁS, CHESF, BB, BNB, BASA, BNDES, CAIXA ECONÔMICA e até mesmo pelos bancos internacional BID e BIRD
• Economia social-comunitária ou solidária, includente, descentralizada, com ênfase no valor de uso e no valor desenvolvimento e que transformam as áreas letárgicas, podendo ser financiadas pelos bancos estatais ou para-estatais acima citados. São exemplos dessa economia a agricultura familiar, as micro e pequenas empresas e associações associativas cooperativadas ou não.
Com vistas ao bom entendimento sobre as idéias, em epígrafe, vale lembrar que o mestre e amigo do Autor Manuel Figueroa em seu livro “La economia del poder” adverte: “Para administrar as políticas públicas sob critérios diferenciados, todo o governo deverá, prinmeiramente, redefinir o rol do Estado e criar capacidade operativa consequente, pois seria a única instância que constitucionalmente autoriza o governo a legislar em sua representação, com a equanimidade, um conjunto de leis, normatividades e procedimentos específicos para estabilizar as relações econômicas e sociais entre setores produtivos e agentes sociais que apresentam níveis tão diferenciados de inserção na economia nacional e internacional….É peciso reconhecer a iniquidade e inviabilidade de submeter e exigir da maioria da população do país o cumprimento de regras e políticas aplicáveis em contexto de alta competitividade quando só alguns setores de sua economia e do seu território estão em condições de enfrentar uma competência em mercados globais com agentes multinacionais de extraordinária capacidade de acumulação, tecnologia, financiamento e competência”.
Ainda, nesse breve introito, apresentam-se ligeiros comentários sobre o diagrama abaixo que, de forma esquemática, dá aos leitores uma idéia da proposta do Autor que se encontra em detalhes em seus livros.
A abertura externa trata da economia privada capitalista sob a égide das empresas multinacionais e transnacionais em termos da competitividade que lhes são inerentes, assim como, da exclusão social. Toda essa economia é visível e mensurável nas áreas dinâmicas do Brasil e, em geral, associada às diretrizes internacionais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. São, em geral, representadas pelas grandes corporações mundiais inclusos as nacionais.
Em termos do Poder Nacional, o Estado Brasileiro está atrelado aos ditames das organizações supracitadas que são, em última instância, as executoras da vontade política do chamado G7, ou G8 e, de uma maneira geral, ao CFR (Concil on Foreign Relations) ou Conselho de Relações Externas sito nos EUA.
Ainda, sobre essa economia Fritjof Capra adverte que “os economistas corporativos tratam como bens gratuitos não somente o ar, a água e o solo, mas, também, a delicada teia das relações sociais, que é seriamente afetada pela expansão econômica contínua. Os lucros privados estão sendo obtidos com os recursos públicos em detrimento do meio ambiente e da qualidade geral da vida, e às expensas das gerações futuras. O mercado, simplesmente, nos dá informação errada. Há uma falta de realimentação, e alfabetização ecológica básica nos ensina que esse sistema não é sustentável”.
No outro lado e em contraponto à janela externa, tem-se a abertura interna que tende a consolidar, no Brasil, uma economia social-comunitária ou solidária com profunda descentralização e inclusão social em quase todos os espaços letárgicos do país e que deve ter um sentido de desmercantilização do processo econômico.
O esquema da página seguinte apresenta, de forma sinótica e diagramática, as iterações e interações das variáveis do Modelo, aqui proposto. Implica sobre um dado território (nacional ou, ainda, região de desenvolvimento e municípios) a partir de Entes Comunitários insertos ou não nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentáveis (CMDS) hoje, existentes em todos os municípios ou, ainda, em organismos regionais.
Acredita-se que entre essas duas aberturas ou duas economias há de se lutar, com todos os meios democráticos, para se alcançar ou criar uma abertura ou janela para o Estado Brasileiro. Essa visando a uma economia pública na qual se possa mediar à transferência de renda da janela externa para a interna com vistas à inclusão social.
Admite-se que a abertura do Estado possa exercer o controle da política econômica com esse propósito e estabelecer, para tanto, a gestão pública nacional para a construção da política social. Essa, também, com viés de desmercantilização ou maior incorporação de valor de uso do processo econômico em relação à categoria de lucro sob a égide do valor de troca.
Nas instâncias da ciência política e da economia política, há que se ter atenção para as duas revoluções, que se dão de forma simultânea, no sistema mundo do capitalismo que são: a revolução técnico-científica e a revolução informacional ou do conhecimento.
Na medida em que o Estado Brasileiro possa mediar e controlar os efeitos dessas duas revoluções mundiais com vistas a uma economia pública desmercantilizada, pode e deve proceder de imediato, às seguintes reformas: judiciária; econômica (tributário-fiscal); política, urbana e agrária.
A abertura externa trata da economia privada capitalista competitiva, sob controle das multi e transnacionais ou corporações, em termos da competitividade que lhe é inerente, assim como, da exclusão social. Toda essa economia é visível e mensurável nas áreas dinâmicas do Estado e do Brasil e, em geral, associada às diretrizes internacionais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Em termos do Poder Nacional o Estado Brasileiro está atrelado aos ditames das organizações supracitadas que são, em última instância, as executoras da vontade política do chamado G7 ou G8 quando se inclui a Rússia.
No outro lado e em contraponto a janela externa se tem à abertura interna que tende a consolidar, no Estado e no Brasil, uma economia social-comunitária ou solidária com profunda descentralização e inclusão social em quase todos os espaços letárgicos do estado e do país.
Admite-se que entre essas duas aberturas há que lutar, com todos os meios democráticos, para alcançar ou se criar uma abertura ou janela para o Estado Brasileiro com vista a uma economia pública. Essa com missão de mediar à transferência de renda da janela externa para a interna com vista à inclusão social. Admite-se que a abertura do Estado possa exercer o controle da política econômica com esse propósito e estabelecer, para tanto, a gestão pública nacional para a construção da político-social solidária.
Nas instâncias da economia política há que se ter atenção para as duas revoluções, que se dão de forma simultânea, no sistema mundo do capitalismo que são: a revolução técnico-científica e a revolução informacional ou do conhecimento. Na medida em que o Estado Brasileiro e o Estado de Pernambuco possam mediar e controlar os efeitos dessas duas revoluções mundiais com vistas a uma economia pública pode e deve proceder, de imediato, as seguintes reformas: judiciária; econômica (tributária/fiscal); política e agrária.
Os impactos de tais vontades políticas, pelo Estado Brasileiro, se darão no sistema do desenvolvimento sustentável com radicais medidas de:
• Investimento, crescimento e desenvolvimento
• Competitividade, conhecimento e gestão
• Sustentabilidade, desburocratização e equidade
• Inclusão social, descentralização e geração de emprego e renda.
Vale salientar que os Estados da Federação Brasileira possuem vários meios legais para implementar tal modelo pelo lado da abertura do estado com vistas à abertura interna e, nesta, a economia social-comunitária ou solidária. Haja vista a lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) o Código Florestal, o Projeto Crédito Fundiário, o Programa Fome Zero e Bolsa Família além das linhas de crédito como o PRONAF e o microcrédito.
Pelas contradições entre essas economias é que o Governo Federal é constituído de ministérios voltados quase que exclusivamente para a economia da janela externa como são exemplos o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Banco Central e o MIDIC, ministérios comprometidos com a economia pública tais como: MCT, Educação, Saúde, Cultura, Minas e Energia, Transportes, etc. e os ministérios responsáveis pela janela interna como são: MDA, MTE e MDS além das secretarias especiais para atender minorias sociais.
Essa realidade impede que nos CVT e nos APL não se distingam e se especifiquem as políticas, papéis e ações desses ministérios. Esses por agirem de forma igual com desiguais distorcem as situações nos instrumentos da política do governo em relação aos CVT e APL sob pena de destoá-los, destorcendo o conteúdo e resultados da política includentes.
A seguir apresenta-se o diagrama ilustrativo do Modelo Autônomo do Desenvolvimento Sustentável com Base Local e das economias em epígrafe com vistas a mostrar ao leitor os seus respectivos fluxos no sistema mundo do capitalismo.
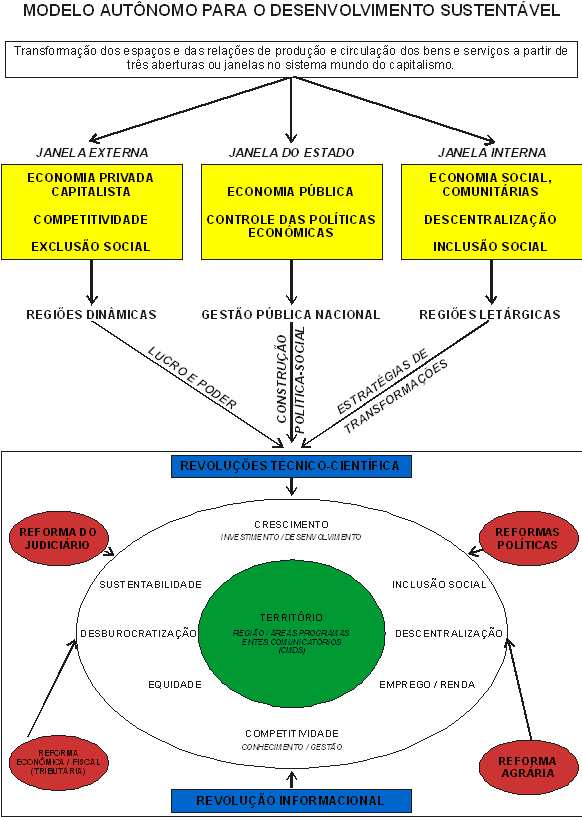
O diagrama em tela do Modelo ilustra, também, por si só de forma esquemática e sinótica, as relações sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas, informacionais em que se inserem as políticas. Essas têm como instrumentos os CVT, os APL e as Cooperativas Incubadoras do PROMINC da Secretaria Nacional da Economia Solidária e o Programa Pernambuco no Batente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos além dos programas do MDA.
Observem-se no diagrama os sentidos e as articulações das três economias frente às reformas políticas necessárias ao desenvolvimento sustentável assim como às revoluções: técnica científica e informacional comum a todas as três economias.
A elaboração e implementação de um PDPM, a partir desses pressupostos teóricos metodológicos, demanda para seu sucesso um mínimo de princípios de Planejamento Estratégico Situacional sobre o qual se explicitam de maneira sinótica um ligeiro introito.
Para governar ou administrar um sistema complexo que é o PDPM há que se possa, de um ponto de vista do planejamento estratégico, as seguintes variáveis essenciais:
a) Um Plano do que fazer? Como fazer? Onde fazer? Para quem fazer?
b) A governabilidade ou gestão do sistema em termos das dificuldades (forças restritivas) do a fazer ou para fazer
c) A capacidade sistêmica de articulação do governo nas relações entre o EM SI (O EU) E O OUTRO como fontes de poder (político) com vistas a dinamizar ou intensificar as vantagens comparativas e competitivas (forças impulsoras) da municipalidade e da RD para alcançarem à imagem objetivo.
Essas variáveis são entrelaçadas tendo como centro focal os atores dos processos entre o eu e o outro. Para sua inteligibilidade usa-se o diagrama triangular proposto por MATUS em seu livro “Adiós, Señor Presidente” para se visualizar o tema em questão:
O Plano trata do conteúdo propositivo das políticas, das estratégias, dos programas e dos projetos de ação que se propõem para se alcançar o propósito unificador ou imagem objetivo em termos de:
Reformas políticas com sinergias das missões dos agentes
Estilos de desenvolvimento sustentável ou das ações a serem implementadas em termos de governabilidade
Capacidade de gerir e negociar as contradições entre o poder em si (do eu) e do outro.
Quanto as suas proposições o Plano busca:
Selecionar os problemas, os atores relevantes e os objetivos a serem atingidos
Os princípios e valores culturais como condicionantes básicos dos projetos
A representatividade com a identificação de quem, com quem e contra quem se deve atuar (categoria de atividade)
Maturação dos impactos em termos de resultados
Qual a direção ou doação de sentido do plano segundo a sua:
Transcendência e tempo de maturação dos objetivos
Seleção e valor dos problemas críticos
A estratégia e alianças das forças impulsoras frente às forças restritivas
Os projetos de enfrentamento dos problemas quanto aos seus fluxos, acumulação e regras sociais e ambientais
A legitimidade do Plano em termos da mobilização dos atores nos projetos de enfrentamento dos problemas.
A Governabilidade e Administração do Plano dizem respeito à relação entre a variável que controla e as que não controlam um ator no processo de governança tendo-se em conta o valor, o poder e o peso da ação do ator a que se refere. Por essas razões a governabilidade e administração do sistema complexo do Plano tratam:
a) De quem depende? Com vistas a:
Relação de peso e de poder do que EU controlo e os que o OUTRO controla
Predominância no sistema de modo que sejam eles: deterministas (com certeza e estocásticas) e complexos (de incerteza quantitativa e incerteza forte)
b) De como se dá a governança numa combinação dos modelos determinísticos (de certeza e estocástico)?
c) De como se efetiva a governabilidade na combinação dos modelos complexos (de incerteza quantitativa e de incerteza forte)?
d) De como se dá a governança se o eu é um ator de pouco peso em relação ao outro nas relações de forças?
e) De como se processa a governabilidade nas relações entre o eu e o outro nas opções e variantes das atividades?
Do exposto deduz-se que toda e qualquer governança ou governabilidade é relativa para os distintos atores sociais na medida em que cada um deles controla uma proporção diferente das variáveis do sistema e, portanto, pode levar:
A ingovernabilidade e a frustração do plano
A mudança do conteúdo propositivo ou do princípio unificador
A alta capacidade de administração e de gestão.
A Capacidade de Governança está voltada para a condução, direção ou doação de sentido às: metodologias, tecnologias, bases de conhecimento, destrezas, habilidades e atitudes de um ator e de sua equipe com vistas a atingir a imagem objetiva do Plano ou mesmo implementar o princípio ou propósito unificador do mesmo. Imbricam-se as ações e sentidos de equipes e de lideranças, geralmente, com respeito às qualidades intelectuais, políticas e de experiências em relação aos conhecimentos sobre os sistemas e aos acessos aos sistemas e métodos da governança. No que diz respeito às integrações verticais, horizontais e de contratos têm objetivos de mitigarem as contradições reais entre o eu e o outro no processo de implementação do Plano.
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL
Entendidos os conceitos de política, Plano e estratégia, é necessário conhecer os pressupostos do planejamento estratégico situacional. O conceito de situação que não se limita a uma apreensão do presente, mas se consubstancia a uma categoria que concebe o futuro pela sua dialética (tese, antítese e síntese) isto é, de ser e fazer em uma razão vital por sobre uma razão abstrata pelas possibilidades das circunstâncias evolventes.
ORTEGA afirma que “todo texto se nos apresenta por si mesmo como fragmento de um contexto. Porém texto e contexto, por sua vez, se opõem e fazem referência a uma situação em vista da qual todo aquele dizer surgir”. Essa situação traz explícito para o interlocutor que “uma idéia é sempre reação de um ente humano a uma determinada situação de sua vida. É dizer, que só possuímos a realidade de uma idéia, o que ela integralmente é, se é tomada como concreta reação de uma situação concreta. É, pois inseparável desta. Talvez resulte ainda mais claro dizer: pensar e dialogar com a circunstância”. (Citado por MATUS).
Conhecer a realidade, segundo ORTEGA, implica em diferenciar diagnóstico tradicional e a explicação situacional, ou seja, enquanto, no primeiro se tem um monólogo de alguém não situado frente ao universo, no segundo, se dá de fato um diálogo entre o ator e os outros atores. O relato ou leitura do diálogo explicita a maneira conveniente do texto e contexto situacional. Este se coabita em uma realidade conflitiva e, portanto, aceita e admitem outras leituras, interpretações, relatos, etc., na medida em que a própria explicação é uma resposta ou diálogo com a situação em que se coexiste com o outro.
Ainda, com respeito ao conceito de situação, segundo MATUS, se pode resumir o pensamento de ORTEGA no seguinte:
A ação não tem significado fora da situação que é um elo para o ator social
Explicar um fenômeno é dialogar com a situação ao contrário do diagnóstico que é um monólogo
A historicidade dos fatos está presente na situação, ou seja, na dialética do passado, presente e futuro
Não há ação no passado e no futuro, sobre as quais não temos domínio, mas apenas, doação de sentido situacional.
Vale lembrar que o conceito de situação envolve o modelo de aderência da contextualização da realidade por um ator em função de sua atividade ou ação de forma a se questionar:
Quem explica?
De que posição explica?
Que referência assume em uma contextualização?
Quais os focos de sua visão de realidade?
Para estudar e apreender o que é o outro há que se possa ter:
Um padrão histórico sobre suas ações passadas em situações concretas
As suas predisposições e convicções ideológicas, crenças, mitos e ilusões do padrão ideológico, político-social e ambiental
Intenções vigentes com respeito a doações de sentido em espaço direcional das suas proposições
O vetor de importância, peso ou qualidade das suas proposições
Suas necessidades e fantasias em termos de agenda de problemas, imperativos da ação e da estética
Sua capacidade de inovar ou de fazer em termos de criatividade
Suas capacidades estratégicas.
Para se entender o que vem a ser o planejamento estratégico situacional é necessário apreender o que vem a ser a distinção e a indicação. Etimologicamente, distinção é ação ou efeito de distinguir, ou seja, dividir, partilhar, ordenar, diferenciar. Para efeito do planejamento estratégico situacional a distinção faz o ator perceber as diferenças entre os fatos ou fenômenos entre o eu e o outro para estabelecer cenários, isto é: conjuntos que se descortinam à vista; panoramas; paisagens; cenas ou, ainda, lugar em que se desenrola algum fato ou situações para distintos propósitos a partir de uma mesma realidade. Desta maneira a situação, assim identificada, é o espaço de produção social só compreensível se quem indica está inserto ou imbricado ao espaço dado. Nessa forma de planejamento a indicação é a maneira pela qual se divide algo para atuar sobre ele o que pressupõe não somente uma ou mais indicações variadas.
Deduz-se, da assertiva acima, que a ação de planejar em forma situacional, é um processo social contraditório e conflitivo. Refere-se, portanto, ao modelo de aderência à contextualização da realidade. Consiste não somente naquilo que creio e afirmo que é, mas também, naquilo que o outro crê e afirma que é. A estratégia que dá conteúdo ao planejamento situacional está, portanto, na visão e no cálculo interativo que exige conhecer as motivações, atitudes e ações possíveis do outro e que elas não dependem das explicações situacionais do eu, mas principalmente, das explicações do outro no módulo evolvente.
É importante saber que o planejamento estratégico situacional tem como requisitos para operarem um sistema complexo o seguinte:
O reconhecimento de conflito existente entre o eu e o outro
A explicação ou distinção da realidade a partir de perspectivas relevantes indicadas para o eu e o outro
O trabalho com sistemas de cálculo com relativa certeza e com sistemas de opostos difusos
O reconhecimento e o enfrentamento com uma diversidade de recursos de cálculo permanente em termos de:
Produção
Previsão
Reação rápida entre a surpresa e aprendizagem do passado recente
A disponibilidade de métodos e meios para lidar com as certezas e incertezas
A verificação de valores e argumentos nos opostos do Plano
As referências aos problemas mais atuais e potenciais
A distinção ou diferença dos problemas bem estruturados dos quase-estruturados
A definição e indicação de responsabilidades por módulos operacionais, ou seja, a estrutura modelar do Plano
O reconhecimento da existência de muitos recursos escassos e critérios de avaliação das decisões nas instâncias: política, econômica, cognitiva, organizativa e psicossocial.
No planejamento estratégico situacional a explicação da situação obedece aos seguintes princípios:
Tudo que se fala é dito por alguém (eu ou outro) a partir de uma posição de observador e para um propósito que pode ser apenas o descobrir, distinguir ou explicar
O observador é um ator social que se apresenta e age de forma imbricada (de dentro) do domínio de sua prática cotidiana
Todo e qualquer ator tem um foco de atenção e leva em conta as interações e sinergias de seu modelo de aderência e de contextualização da realidade entre o seu foco e o sistema que expressa o domínio de sua prática e, certamente, o sistema maior que contem esse sistema
O ator descreve e distingue algo que atrai sua atenção que é referência para sua indicação. Vale enfatizar que toda indicação ou descrição é situacional já que se processa desde a perspectiva de quem descreve
O ator só pode distinguir as realidades para quais tem conceito e vocabulário que, por sua vez, depende do patrimônio cultural. As palavras são meios de distinção, descrição ou diferenciação. As descrições, distinções e indicações de uma mesma realidade feita por dois atores distintos situados em forma diferente na realidade serão necessariamente diferentes na medida em que são elaboradas a partir de conceitos prévios (preconceitos)
A apreciação e observação implicam na avaliação da descrição em relação ao propósito ou proposição do ator. Tanto a observação como a apreciação multiplica os elementos de distinção, diferenciação e indicação a respeito de outro ator
A cegueira situacional consiste na contextualização resultante do modelo de aderência do eu e do outro sobre a realidade e que tanto o eu quanto o outro não podem distinguir por que está fora do foco de:
Atenção
Compreensão por limitação de conceitos e vocabulário
Referência pela impossibilidade de situar-se na referência do outro
Percepção por limitações intelectuais e preconceitos
Espaço-tempo, ou seja, além do presente em que está situado.
No planejamento estratégico situacional os recursos do cálculo econômico social obedecem às seguintes bases:
Predição e previsão onde se buscam as vias de:
Extrapolação quando se admite que determinada ocorrência do passado possa ocorrer em um presente ou futuro
Simulação a partir de teorias e modelos criados para tal fim
Instituição ou juízos de profissionais muito habilitados e intuitivos
Imaginação a partir de fantasias para a criatividade
Reação rápida frente à surpresa, isto é, prever que o outro pode e deve surpreender e há que se ter uma resposta imediata para a surpresa
Aprendizagem do passado recente quando o mesmo é considerado como virtualidade do presente o do futuro inserto na dialética da historicidade dos fatos ou dos fenômenos.
A partir dessas bases de cálculos pode-se a título de exemplo, se predizer a situação demográfica, prever os possíveis cenários e possíveis surpresas, planificar um setor produtivo, de serviços e de circulação de bens econômicos.
O cálculo é constantemente repetido segundo os seguintes sentidos:
CÁLCULO DECISÃO / AÇÃO RESULTADOS AVALIAÇÃO
APRECIAÇÃO DA NOVA SITUAÇÃO CORREÇÃO
Como se sabe o cálculo em suas constantes repetições confunde-se com apostas em termos dos modelos dos sistemas: determinísticos; estocásticos; complexos de incerteza quantitativa e complexa de incertezas fortes ou duras.
Outrossim, o cálculo pode e deve lidar com todos os tipos de incertezas, para tanto, convém:
Não congelar o cálculo sobre o futuro desejado
Utilizar plenamente os recursos do cálculo, isto é, predição, previsão, rápida reação frente às surpresas e a aprendizagem do passado recente. Com certeza o cálculo para lidar com as incertezas deve ter rápida reação frente à surpresa e trabalhar com cenários em termos de analisar as sensibilidades do plano diante dos cenários propostos
Imaginar as surpresas e avaliá-las cuidadosamente as de baixa, média e de altos impactos em termos de critérios de responsabilidades, impactos nos resultados e custos de contingências
Verificar a solidez dos argumentos do Plano descobrindo as surpresas implícitas ou fora do foco da atenção do ator.
O TEMPO E OS MOMENTOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
Considerando-se o tempo como período em relação aos acontecimentos que nele ocorreu, ocorre e ocorrerá podem-se, para a análise dos problemas, se verificarem suas dimensões quanto:
Ao tempo como recurso escasso
Ao tempo como critério de valoração de problemas
Aos resultados das taxas sociológicas de desconto do tempo
À importância dos problemas e seus resultantes futuros em relação ao presente
O tempo como elemento de valoração econômica, financeira, social e ambiental.
Outra questão fundamental da avaliação do tempo nos problemas está na sua diferenciação em tempo humano e tempo social. No primeiro se tem o aqui e o agora e, no segundo, os fatos e fenômenos que se produzem, com grandes efeitos, e que mudam o curso da história existem, ainda, um grau de incerteza que vai além de certo tempo, indicando não se poder raciocinar objetivamente ou seriamente.
A presente noção de tempo nos problemas do planejamento estratégico situacional não supõe decisões críticas que se realizam no aqui e agora (tempo humano) e produzem grandes impactos na história (tempo social). No planejamento estratégico situacional é importante se levar em conta o tempo que envolve o ciclo de vida dos problemas e das operações que se propõem resolver seja a construção de uma ponte, uma usina hidrelétrica ou uma campanha de vacinação.
É importante saber que nem mesmo o tempo e o espaço são verdades absolutas, na medida em que, sua relatividade está no “big bang”, isto é, antes dele não há sentido para a existência do espaço-tempo que é, sem dúvida, uma criação ou um sentido doado pelos humanos.
Momento para efeito de planejamento estratégico é o espaço de tempo indeterminado ou o ponto determinado do tempo em termo de instante, hora, situação, tempo presente e ocasião oportuna para realização de algo. O conceito de momento vai do significado de alternativa (oportunidade de escolha) ao de etapa (distância que se vence o percurso).
No planejamento estratégico situacional os momentos possuem as seguintes particularidades:
Não seguem seqüências lineares estabelecidas
Conformam uma cadeia sem fim, isto é, sem começo e nem fim
Cada momento quando é dominante, articula o outro como apoio a seu cálculo
Nunca esgotam suas tarefas e se repetem constantemente com distintos conteúdos, tempo e situação
Em uma data concreta os problemas do Plano se encontram em diferentes momentos dominantes, podendo ser explicativos; normativos; estratégicos e tático operacionais. (Ver figura explicativa na página seguinte).
A análise ou apreciação situacional do MOMENTO EXPLICATIVO trata do (a):
Processamento da realidade com vistas às próprias perspectivas em termos de: Quantas? Quem?
Processamento da realidade na perspectiva do outro em relação a: Quais outros? Porque?
Cegueira situacional
Processamento dos valores e normas para a seleção dos problemas e atores sociais relevantes
Processo de conformação de problemas em função de: tema de insatisfação; tema de reflexão ou foco de interesse; conformação do problema ou foco de atenção e problema na situação para compromisso na execução
Macroproblema ou síntese a partir das relações dos problemas específicos
Análise dos problemas quanto a: espaço; ator que se explica; quantas explicações são necessárias; os nós críticos e a identificação dos subproblemas Valor dos problemas para os diversos atores sociais, seus posicionamentos e interesses
Respostas: em que problemas os atores sociais concentram sua atenção? Quais são os problemas na situação? Quais são os problemas declarados ou identificados?
Explicação em relação à ação do eu, porém com a relação da ação com base a explicação tanto do eu como do outro.
MOMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL
Programa de governo da seguinte maneira:
Estabelecer o sentido ou direção do governo
Estabelecer a diferença com os competidores
Assumir o compromisso da ação política
Motivar adesão popular identificando o governo com a solução dos seus problemas
Ser um meio de ativismo político e formação de consciência na campanha eleitoral
Ter contrato político programático que chegue até os níveis locais
Refletir a cidadania de forma sólida e efetiva que é menos custosa que a propaganda.
O aspecto comunicacional do programa de governo tem íntima relação com a reflexão prévia do governo e que se expressa da seguinte maneira a se ter um aspecto:
Público comunicacional do programa de governo que é diferente do plano de governo, porém com consistência com o plano de governo
De reflexão interna para se preparar para governar, ou seja, evitar a perda dos primeiros seis meses de governo
De preparação de equipes do governo que sempre se subestima pela má colocação do problema. Daí a confusão entre “técnicos” e o extrato técnico político e tecnicoburocrático que se segue para governar com eficácia
De grandes diferenças entre as ciências e técnicas que são dominadas pelos profissionais e as diferentes ciências e técnicas usadas ou aplicadas pelo governo.
Os critérios do planejamento estratégico situacional que devem ser apontados pelo Plano ou programa de governo são:
Distinguir ou diferenciar a estratégia principal das estratégias parciais. O sentido ou direção do programa de governo é sempre uma tarefa difícil onde a contradição principal não pode ser confundida com as contradições secundárias
Articular as principais dimensões do sistema na estratégia principal (o político, o econômico, o organizativo-institucional, o científico-tecnológico, a segurança, etc.)
Ter coerência situacional para evitar contradições no plano dos valores ou da liberdade política versus liberdade econômica, ou seja:
Trabalhar com problemas de forma a evitar o tecnocracismo setorial e as aparências de descentralização e participação quando na realidade se concentram as decisões elitisticamente. Há que se vencer as limitações de trabalhar setorialmente em prol de ações multi e plurissetoriais
Fazer ou proceder a uma explicação situacional dos problemas com vistas a evitar os diagnósticos desde uma única perspectiva de análise
Esboçar projetos de ação e, em alguns casos, operações para enfrentar os problemas
Centralizar a estratégia principal como propósito unificador e a partir dela descentralizar as estratégias parciais e locais. Ter sempre conciliação entre coerência, criatividade, a ativismo político.
O MOMENTO ESTRATÉGICO é o que constrói a viabilidade ao deve ser do plano, ou melhor, a relação do deve ser com o pode ser que levam a vontade de se dar mais peso e valor ao deve ser.
Esquematicamente se tem:
Em termos de estratégia não se têm receitas, porém existem princípios entre os quais se destacam:
Apreciação eficaz da situação com avaliação da situação desde todas as perspectivas dos atores relevantes
Adequação da relação recursos-projeto propondo-se objetivos ao alcance da criação e capacidade dos mesmos com distinção entre a aventura e a estratégia na motivação extraracional
Concentração e continuidade estratégica de forma a se evitar a distração tática, concentrarem-se no essencial e continuar o que foi iniciado e não abandonar o objetivo salvo quando perca a vigência
Rodeio tático com referência a pensar com a cabeça e empurrar com o coração, isto é, evitar a síndrome do toro que é o reverso. Não há linha reta entre a situação inicial e a situação-objetivo e não se deve confundir o tático com a negação do doutrinário
Economia de recursos com a escolha da estratégia de menor esforço consistente com o objetivo. Não se subestima o poder e não se cria oponente desnecessário. Procede-se o uso mais racional possível dos recursos econômicos
Conhecimento e valorização do outro, ou seja, conhecer a realidade é em grande parte conhecer o outro e valorizar seus recursos
Valoração multitemporal e multidimensional de consequências, isto é, ainda que se tenha muito recurso, valorizem-se as consequências das estratégias tanto nos diversos horizontes do tempo como nos diferentes âmbitos do sistema social
Encadeamento das estratégias de forma aonde uma termina inicia-se a outra. Há que se pensar nos resultados de uma estratégia como se fosse à situação inicial da estratégia seguinte
Evitar o pior tem a máxima prioridade. A primeira obrigação de uma estratégia é impedir de cair em uma situação pior que a atual, seja imobilismo ou por empreender uma estratégia para melhorar a situação inicial
Evitar as certezas e as predições. O campo de ação é um mundo de incertezas e surpresas. Há que se preparar para várias possibilidades e para reagir com velocidade e em tempo hábil ante as surpresas. É muito bom se enumerar e valorizar as possíveis surpresas e se é econômico preparar plano de contingência.
O MOMENTO TÁTICO OPERACIONAL corresponde ao momento do fazer e é decisivo. É o único que muda as coisas. Para tanto, exige em demanda dos ativos a vontade de fazer ou por vontade própria ou por pressão do outro. Nele está o cálculo que precede ou preside a ação no presente do Plano que se completa na ação em um processo de direção e planificação.
Observe o leitor que no sistema de planejamento existem três aspectos centrais. O primeiro trata do processo de decisão na ação presente, o segundo, condiciona o sistema de decisão e o terceiro o processo de pesquisa de problemas, informações e enfrentamento para criar o nexo entre a direção e a cidadania. Ainda, no esquema, se apresentam os anéis de mediação entre o conhecimento e a ação, entre o cálculo tecnopolitico e a ação política, entre os diversos ativos e entre compromissos e realizações.
A mediação é, aqui, entendida como a conexão entre dois processos que não tem convergências e operam com linguagem e focos de atenção diferenciados, isto é, recebe informação e transforma a qualidade da mesma para realizar um produto que é à entrada de outro processo que participa da mediação. A mediação, opera, ainda, com duas linguagens: uma de entrada e outra de saída e coincidem os focos de atenção, do mediador para que possa fazer funcionar o sistema de direção. Para concluir um produto, a mediação, exige: convergência de retroalimentação e pré-alimentação.
Por ser decisivo o momento tático-operacional tem os seguintes princípios de direção:
Concentração estratégica
Flexibilidade tática
Oportunidade e eficácia da ação. Para tanto, aprecia a situação com vistas a resolução dos problemas e operações novas ou de correções.
O sistema de direção no momento tático-operacional é a forma como se intitula e se institucionaliza o sistema de decisão, o sistema de gestão e os sistemas de apoio para conduzir a mudança situacional através dos processos de mediação necessários. Existem três modos de direção, ou seja, a normalizada, a estratégica e a de emergência em escalas de situações. O sistema de direção no momento tático-operacional compreende vários subsistemas requeridos pela direção estratégica situacional, a saber:
Planificação conjuntural que intersecta os sistemas conhecidos como suporte para decisões. O peso desse subsistema está na mediação entre o conhecimento e a ação e concentra nos problemas e nas operações estratégicas o centro da direção estratégica
Gerência por operações que transforma o sistema de direção em um sistema recursivo que se reproduz até os níveis operacionais de base guiados por critérios de eficácia. É um subsistema flexível que normativa os processos estruturados e semiestruturados menos rígidos. A gerência por operações converte os módulos do plano em módulos de gerência
Prestação de contas que avalia o transcurso do processo de mudança situacional regido a distribuição de responsabilidades institucionais e organizativas que a estrutura modular do plano estabelece. Os procedimentos são diferenciados para os módulos estruturados e semiestruturados
Orçamento programa que formaliza a adoção de recursos econômico-financeiros aos módulos de planejamento seja de operações, ações e subações deles requeridas. Estabelece a correspondência entre o módulo orçamentário e os módulos do Plano. Refere-se também, a eficiência em termos da relação recursos – produtos
Emergência situacional quando cria métodos especiais para todas as referências quando têm origem os riscos de perda de controle e de tempo para o dirigente. Está voltada para mediar à tensão operacional que pode levar a cegueira dos ativos em conflito.
Quando o presente PDPM envolve segmentos de APL deve voltar-se para a coordenação, sincronização e gestão dos esforços e atividades de apoio ao setor produtivo privado e melhorar a base tecnológica da RD e seus respectivos municípios. Para tanto, deve a partir do planejamento estratégico situacional:
Fortalecer a estrutura agroindustrial e industrial
Promover capacidades inovadoras
Criar ambientes ao empreendedorismo e investimento
Aumentar as atividades de pesquisas e desenvolvimento (P&D) tanto no setor público quanto nas empresas privadas
Erradicar os analfabetismos: escolar, ambiental e tecnológico
Solidificar as bases da economia solidária nos termos propostos pelo MCT e pelo MTE.
O PDPM, aqui proposto, imbrica-se a estratégia geral do Governo Estadual segundo a qual se tem que “superar as restrições a competitividade das empresas nas RD do Estado com prioridade aos segmentos da economia solidária a partir de micros, pequenos e médios empreendimentos de forma sustentável”.
Para tal propósito a Agenda 21 de Pernambuco, lançada pela SECTMA em agosto de 2002, explicita a metodologia para a participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade pernambucana e para legitimar o desenvolvimento sustentável em nível local a partir das RD do Estado.
II. O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE?
A Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 conhecidas como Estatuto da Cidade resgata o planejamento estratégico municipal com ênfase as diretrizes orçamentárias, a gestão orçamentária participativa e os planos, programas e projetos no território do município.
As ferramentas de participação garantidas na Lei induzem as mudanças, modos, objetivos e resultados da administração municipal e estadual. A Lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998 e estabelece normas que regulam o desenvolvimento sustentável através do uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e, também, do equilíbrio ambiental.
Suas diretrizes gerais se aplicam a União, Estados e Municípios. São elas:
• Garantia do direito a terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer
• Participação da população na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
• Cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade no processo de urbanização e desenvolvimento
• Planejamento do desenvolvimento sustentável e das cidades de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente
• Oferta de equipamentos e serviços de desenvolvimento públicos adequados aos interesses e necessidades da população
• Ordenamento e controle do solo urbano e rural
• Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais
• Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica
• Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização
• Adequação da política econômica, tributária e financeira dos gastos aos objetivos do desenvolvimento sustentável
• Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis
• Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico
• Audiência do Poder Público e da população interessada para implantação de empreendimentos ou nas atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente, o conforto ou a segurança da população
• Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
• Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais.
A Lei tem como instrumento básico da política de desenvolvimento sustentável local o Plano Diretor Participativo Municipal – PDPM como parte essencial do processo de planejamento onde o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) devem, obrigatoriamente, incorporarem suas diretrizes, mecanismos orçamentários e prioridades.
O PDPM trata das seguintes políticas do desenvolvimento sustentável local:
• Política ambiental desde as áreas verde passando pelos recursos hídricos, saneamento ambiental e destino final dos resíduos sólidos
• Política de proteção e conservação do patrimônio histórico e cultural do município
• Política de ocupação adequada do território municipal, respeitando as limitações físicas, ambientais e a capacidade de atendimento por infra-estruturas econômicas e sociais
• Política de funcionamento da cidade, permitindo a integração multissetorial e multifuncional das vias que facilitam acessos aos bens e serviços coletivos e da circulação das pessoas incluso aquelas portadoras de necessidades especiais
• Política habitacional a partir das necessidades de regularização fundiária resguarda de incomodidades e da habitabilidade.
O PDPM contempla, também, princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), principalmente, naquilo que trata da transparência das ações governamentais, a participação popular nas decisões e o planejamento participativo. Nesse aspecto o PDPM, da mesma forma que a LDF, utiliza os seguintes instrumentos:
• Plano Diretor Participativo
• Plano Plurianual
• Diretrizes orçamentárias e orçamento anual
• Gestão orçamentária participativa
• Adoção de institutos tributários e financeiros
• IPTU progressivo no tempo
• Contribuição de melhoria
• Incentivos e benefícios fiscais e financeiros.
A ORIENTAÇÃO
Para formulação do Plano Diretor Participativo Municipal, a orientação tem como ponto de partida um diagrama de desenvolvimento sustentável em termos de estratégia para ação. (Ver diagrama nº 1).
Na leitura do diagrama supracitado observam-se, na legenda, os comando de doação de sentido, consulta e ação para o desenvolvimento sustentável em termos de estratégia para ação. Já os estudos básicos e a capacitação das equipes técnicas condicionam a política nacional de desenvolvimento sustentável, implícita no Estatuto da Cidade. Observa-se no diagrama, a situação de consulta e de ação aos centros de estudos e pesquisas, de capacitação e treinamento. A estratégia para a ação doada pelo sentido do sistema integrado de desenvolvimento sustentável a partir da ordenação de ocupação territorial e do próprio Plano Diretor Participativo Municipal. Este é alimentado pelo desenvolvimento sustentável municipal e da descentralização institucional-administrativa que imprime um novo sentido para tratar da:
Política de meio ambiente envolvendo o eco e o agro turismo
Dinamização do mercado de terras e geração de emprego e renda
Organização de empresas associativo-cooperativas ou não a partir de laboratórios comunitários
Agências de serviços integrados de acordo com esta nova nomenclatura de gestão pública ou de secretarias
Bolsa de oportunidades ou de empreendimentos com vistas a programas e projetos de investimento a um novel processo de acumulação de capital que não mais deprede o patrimônio nacional e exproprie com o nível de pobreza o que há de humano na categoria de força de trabalho.
O diagrama nº 1 explicita, também, a finalidade da estratégia para a ação, consubstanciada no sentido de desenvolvimento silvo-agropastoril, eco agroindustrial e cultural-turístico do desenvolvimento sustentável local ou municipal.
Logicamente, a preparação para formação do Plano diretor municipal, demanda a visualização dos eixos de planejamento e de execução do Plano diretor Participativo Municipal explicitado no Estatuto da Cidade. (Ver diagrama nº 2).
Esse diagrama esquematiza quatro eixos para o Plano diretor e quatro eixos para sua execução de acordo com a percepção de sustentabilidade do desenvolvimento local.
DIAGRAMA Nº 1: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(ESTRATÉGIA PARA AÇÃO)
Legenda:
Doação de Sentido para ação
Ação
Consulta
DIAGRAMA Nº 2: EIXOS DE UM PLANO DIRETOR
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL
(LEI 10.257 DE 10/07/2001)
Nos eixos do Plano Diretor os focos são:
Os mercados (mão-de-obra, capital, solos agrícolas e urbanos, insumos e tecnologia)
A geração de emprego e a inclusão dos cidadãos aos processos socioeconômicos e ecológicos
A renda gerada localmente com vistas a sua também repartição local
Aos processos de produção e de serviços que o município pode e deve ofertar ao MERCOBRASIL (Mercado Interno) e aos mercados mundiais.
Já nos eixos da Execução do Plano Diretor os focos são:
Modo de ação das organizações públicas, privadas, ONGs e a Lei do Plano Diretor quanto a: execução; mediação e avaliação e trabalho em parceria, em termos de serviços de desenvolvimento com princípios de: complementaridade, acessibilidade, simultaneidade e escala mínima de operação
Insumos a mobilizar nos âmbitos internos e externos do município
Fatores produtivos em termos de minimizar as ociosidades hoje existentes no capital social básico, nos recursos humanos e nos recursos materiais e ambientais/turísticos
Instrumentos de política: econômica, social e ecológica com vistas a máxima efetividade, isto é, eficiência e eficácia dos mesmos.
Como antecipação do plano Diretor a Agenda 21 Local pode ser elaborada obedecendo ao seguinte plano de trabalho:
Início da programação com formação da equipe
Visão prévia dos temas quanto a: consulta bibliográfica; análise dos documentos importantes; sistematização dos temas e respectivos subtemas; elaboração e edição do documento base para a oficina de trabalho
Oficina de trabalho quanto a: preparação; realização; sistematização dos resultados
Elaboração da versão preliminar da Agenda 21 Local de forma a: definir políticas e estratégias de ação; introduzir ao documento base os resultados da oficina de trabalho; redigir a versão preliminar da Agenda 21 Local para a realização de seminários temáticos com vistas a determinados cenários
Realização de seminários com temas e subtemas específicos do local com vistas a uma situação desejada pelas comunidades
Elaboração da versão final da Agenda 21 Local como pré-condição para o plano diretor segundo o Estatuto da Cidade e cenários da Agenda 21 Local
Explicitação da contribuição da Agenda 21 Local para o plano diretor de conformidade com as exigências do Estatuto da cidade
Divulgação da Agenda 21 Local.
Nesta Orientação, vale salientar que a mesma será progressivamente melhorada, no todo e nas partes, na medida em que se acumula a experiência do seu uso. Também, se incorpora comentários e sugestões para melhorá-lo provenientes de profissionais comprometidos com os princípios e paradigmas das Agendas 21 da ONU e da Brasileira, assim como, da Declaração dos Direitos Humanos e do Estatuto da Criança para não se falar dos paradigmas da Lei 10.257/01 ou Estatuto da Cidade.
METODOLÓGIA
A formulação do Plano pode ser vista de forma simplificada no diagrama nº 3. A leitura do mesmo remete para uma percepção holística ou sistêmica do Plano Diretor de acordo com os esquemas representados nos diagramas 1 e 2.
A visão ou percepção, em tela, aponta ou dá sentido à base política/institucional, social e de preempção objeto do Estatuto da Cidade tendo implícita a referência da base tecnológica vigente no município.
Inserto nessa concepção esquemática tem-se os desdobramentos da base política/ institucional/tecnológica nos seguintes segmentos:
Base fundiária com vista a reverter o processo de concentração monopolista da propriedade privada da terra que contribui para a concentração da renda e atrofia do mercado interno ou MERCOBRASIL além de efeitos excludentes no processo de acumulação de capital
Base do emprego e renda onde se vive e se observa uma construção de um país nanico de privilegiados em detrimento da formação e da construção de um Brasil Grande com inclusão de sua população que vive aquém da linha de pobreza e que nos estados do Nordeste constituem mais da metade da sua população
Base produtiva rural com fundamentos em tipos de agricultura mercantil de autoconsumo e semimercantil, por um lado, e de agricultura latifundiária e de especulação de mercado pelo outro
Base produtiva urbano/industrial a custa de um processo de acumulação de capital que depreda o patrimônio nacional e se caracteriza pela mais valia absoluta ou exploração intensiva da mão-de-obra ou dos recursos humanos
Base de serviços e entretenimento onde os serviços de desenvolvimento são prestados sem a mínima complementaridade e simultaneidade das ações além da ausência de escala de produção e da acessibilidade dos serviços
Base física e ecológica onde se tem o tudo a fazer em termos de recuperação dos recursos, hídricos, florestais, solos agrícolas e meio ambientes depredados, em grande parte, pelos atuais processos de acumulação de capital e de urbanização
Base cultural onde há que se reverter o imperialismo cultural na forma de pensar eurocêntrico e etnocêntrico contrapondo ao mesmo o pensar crítico abrangente com perspectivas de recomposição dos processos de deculturação e de aculturação com vistas a auto-afirmação cultural
Base de uso do solo urbano controlado e dominado pelo sistema de especulação imobiliária com efeitos de ociosidade e transformação do solo em reserva de valor e completo desvirtuamento de planos urbanísticos humanitários
Base da infra-estrutura econômica e social, hoje, em profunda ociosidade no que pese a necessidade, cada vez maior, de se melhorar e de se ampliar a dita base voltada para um desenvolvimento sustentável.
Teórica e metodologicamente os estudos, nas bases acima referidas, são remetidos para:
Os impactos ambientais em termos de estudos ambientais (EIA) e de relatórios ambientais (RIMA) e estudos de impactos de vizinhança (EIV) este considerando: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte; ventilação e iluminação, a paisagem urbana e o patrimônio material e cultural
O zoneamento ambiental para fins de uso do solo, crescimento da cidade e preservação ambiental
O plano de desenvolvimento sustentável ou Agenda 21 Local como estratégia de ação para o plano diretor
O plano plurianual que é apresentado à Câmara de Vereadores para sua devida análise e aprovação em Lei Municipal
Os programas e projetos insertos em uma visão multifuncional e integrada a partir se possível, de arranjos produtivos locais
A gestão orçamentária objeto tanto do Plano plurianual como dos programas e projetos do plano diretor.
Na medida em que se tem um processo lógico, coerente e sistemático nos sentidos básicos de formulação do Plano diretor Participativo que deve ser juridicamente preparado em forma de Lei e aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.
DIAGRAMA Nº 3: ESCOPO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001)
FORMULAÇÃO
A compreensão do escopo teórico/metodológico do Plano Diretor Municipal leva o técnico ou leitor à sua formulação que, em linhas gerais, é explicitada de acordo com o diagrama nº 4. Nele, o Plano Diretor Participativo tem seu início na visão prévia e nas referências apresentadas pela prefeitura do município. A elaboração obedece quatro fases fundamentais, a saber:
a) Diagnóstico, onde se estudam:
Os indicadores macroeconômicos (PIB, ICV, IDHM, etc.)
O levantamento de recursos e potencialidades existentes
A estrutura e funcionamento do sistema sócio-econômico de produção de bens e serviços
Os níveis tecnológicos em vigência
Os limitantes quantitativos do desenvolvimento sustentável local e os indicadores de desenvolvimento humano
b) Prognósticos com projeções a partir de alternativas de mudança nas instâncias:
Da preservação ecológica
Ociosidade do capital social básico existente no município e adjacências;
Ociosidade dos recursos humanos quanto a PEA, PIA e o sistema educacional
Ociosidade dos recursos naturais existentes e que podem ser usados de imediato
Desperdícios econômico-sociais em todos os níveis que se apresentam
Uso do solo agrícola e urbano com todas suas distorções
Financiamento público e privado que levam os investimentos produtivos ou não
Projeções básicas que substanciam o conhecimento prospectivo
Processo de acumulação de capital que não pode e não deve ser predatório e, muito menos, extorsivo da mão-de-obra
c) Formulação de estratégias nas bases físicas, econômico-social e ambiental compreendendo:
Conservação ativa e o aproveitamento do potencial produtivo e ambiental existente localmente
O aperfeiçoamento jurídico da propriedade da terra agrícola e do solo urbano
Os novos processos de formação de capital
O melhoramento sustentável da renda gerada e distribuída localmente
A organização empresarial e, muito em particular, das empresas associativas sejam elas: cooperativas; condominiais; conviviais e comunitária
A auto sustentação do desenvolvimento local com base fundamental no MERCOBRASIL
A delimitação das áreas urbanas de conformidade com os paradigmas da Lei 10.257/01
O direito de preempção tal qual reza o Estatuto da Cidade
d) Mecanismos de intervenção formulados a partir:
Do zoneamento econômico-ecológico e do uso do solo urbano
Do ordenamento da ocupação territorial
Da reforma agrária ou reestruturação fundiária que ponha um fim ao processo de concentração monopolista da propriedade privada da terra
Dos projetos multifuncionais integrados em termos de projetos básicos, projetos modelos e projetos complementares
Da segurança alimentar e da segurança do abastecimento a partir do mercado interno regional (MERCOBRASIL)
A organização social com vistas a geração do emprego e da redistribuição da renda gerada localmente
Da organização dos serviços sociais básicos e de desenvolvimento em termos de acessibilidade, complementaridade, simultaneidade e escala mínima de produção ou de serviços
Da aplicação das leis do CONAMA que tratam dos EIA e dos RIMA e, agora, do Estatuto da Cidade que estabelece os estudos de impactos de vizinhança (EIV) bem como dos paradigmas das Agendas 21.
A partir da inclusão das fases acima descritas segue-se o orçamento participativo consolidado que subsidia o plano plurianual como parte integrante do PDPM que deve ser promulgado em Lei pela Câmara Municipal do Município.
DIAGRAMA Nº 4: FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001)
A partir das referências do Estatuto da Cidade e dos itens anteriores apresentam-se a seguir os diagramas nº 5 e nº 6. O primeiro visualiza de forma sinótica para a proposta técnica do Plano Diretor Municipal com o seu programa de trabalho. Já o diagrama nº 6 convida o técnico e o leitor a visualizar as entradas e saídas do Plano sob a ótica de processo inserto na visão de desenvolvimento sustentável.
Considerando que a proposta técnica se constitui na parte essencial para decisão da prefeitura-cliente em contratar a elaboração do seu PDPM, apresenta-se a seguir o programa de trabalho cuja metodologia e técnica de elaboração serão explicitadas e detalhadas imediatamente no ato do contrato de elaboração.
Convém salientar que os números de 100 a 700 e seus respectivos desdobramentos, constantes do diagrama nº 5, caracterizam as tarefas de elaboração dos trabalhos que convalidam o plano diretor municipal segundo a Lei nº 10.257/01 ou Estatuto da Cidade.
O Plano de Trabalho será desenvolvido à luz do escopo teórico metodológico e com metodologias específicas para cada aspecto cujas tarefas obedecerão aos seguintes tópicos:
Estudo de Mobilização dos Atores com vistas à:
a) Elaboração do diagnóstico situacional a partir das seguintes dimensões:
Físico-ambiental
Econômica
Sociocultural
Institucional-administrativa
b) Mobilização dos atores envolvidos compreendendo:
Processo de sensibilização
Realizações de eventos participativos
Síntese dos problemas e potencialidades
Formulação de cenários e prognósticos.
Elaboração da base cartográfica para os necessários zoneamentos, particularmente, o zoneamento ambiental ou ecológico e as propostas correspondentes a:
Definição da área urbanizável
Zoneamento do uso e ocupação do solo tanto na urbe quanto no agro
Cartas importantes dos outros campos setoriais de produção e serviços para o município.
Formulação de propostas técnicas de desenvolvimento quanto a:
Turismo e lazer
Infraestrutura urbana e social
Outros campos setoriais de produção e serviços.
Elaboração do Plano Diretor tendo como principais tarefas:
Consolidação dos Estudos Realização
Diretrizes, Metas e Estratégias
Plano Plurianual
Programas e Projetos
Formulação de Ações para o Desenvolvimento Sustentável Municipal.
Instrumentalização do Plano Diretor compreendendo as definições dos instrumentos necessários quanto aos aspectos:
De planejamento e orçamento
Fiscal e financeiros
Jurídicos compreendendo não somente a legislação, mas, principalmente, os anteprojetos de leis correspondentes: ao uso, parcelamento e ocupação do solo; perímetro urbano; código de obras; outras leis pertinentes e a própria Lei do Plano Diretor.
Gestão do Plano com as devidas regras da participação da sociedade e dos sistemas de parcerias para tal fim.
Divulgação e acompanhamento do Plano Diretor não somente pela mídia local, mas, principalmente, pelas legitimas parcerias com a sociedade civil organizada.
DIAGRAMA Nº 5: PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001 – ESTATUTO DA CIDADE
DIAGRAMA N º6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL (Fluxograma Sinótico do Plano Diretor)
Legenda:
Institucionalidade do Plano Diretor Participativo Municipal. Nesta parte da elaboração serão tratados:
Diretrizes Gerais
Instrumentos da Política Urbana
Parcelamento, edificação e IPTU progressivo no tempo
Usucapião de imóvel e direito de superfície
Direito de preempção e de construir
Operações consorciadas e transferência de direito de construir
Impactos de vizinhança
Gestão democrática.
Para alcançar os aspectos de Institucionalidade do Plano Diretor Participativo Municipal, as ações do município devem realizar-se em instâncias descentralizadas dentro de uma única esfera institucional com autoridade suficiente para administrar, com coerência a aplicação dos recursos públicos. Coordenar e supervisionar a execução dos múltiplos programas e projetos econômicos, sociais e ambientais objeto do plano diretor.
Com vista a esse objetivo se apresenta o diagrama nº 7 que visualiza, de forma esquemática, uma possível Institucionalidade dos instrumentos do plano diretor.
A Institucionalidade em epígrafe, aqui apresentada, deve ser complementada com uma visão multidisciplinar e multifuncional do sistema e dos subsistemas da gestão do plano diretor que se esquematiza e se explicita no diagrama nº 8.
Vale salientar que a Lei 10.257 de 10/07/2001 autoriza ao município impor aos proprietários de imóveis encargos da recuperação de investimento públicos que resultam em valorização de imóveis urbanos. Impõe, também, a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por populações chamadas de baixa renda mediante normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.
A Lei em tela determina, ainda, a proteção, preservação e recuperação do ambiente natural e construído e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arqueológico, Demanda, para gestão municipal a participação e audiência da população nas instâncias de orçamento, ambiente e vizinhança. Desta forma torna a participação do munícipe permanente na gestão da cidade. A sua essência está em privilegiar: investimentos geradores de bem-estar geral e aferição dos bens pelos diferentes segmentos sociais.
Em termos jurídicos o Estatuto da Cidade também amplia a concessão de uso do solo, aplicado pelo Decreto-Lei nº 271/67 e determina a garantia da participação de movimentos e entidades da sociedade civil, sobre as quais deve incidir o controle social.
DIAGRAMA Nº 6: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL (Fluxograma Sinótico do Plano Diretor)
Legenda:
DIAGRAMA Nº 7: INSTITUCIONALIDADE E INSTRUMENTOS DO PLANO DIRETOR
(LEI 10.257 DE 10/07/2001)
LEGENDA:
DIAGRAMA Nº 8: SISTEMA DE GESTÃO (LEI 10.257 DE 10/07/2001)
SUBSISTEMAS Componentes Básicos
Em julho de 2008 o estado de arte dos planos diretores participativos municipais em Pernambuco, segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM era o seguinte:
• 79 municípios com populações menores de 20.000 habitantes e isentos da obrigatoriedade de elaboração do PDPM
• 70 municípios com seus PDPM aprovados em Leis municipais
• 15 municípios com PDPM concluídos e não consubstanciados em Lei municipal
• 10 municípios com PDPM em elaboração
• 06 municípios em processo licitatório de elaboração do PDPM
• 04 municípios sem PDPM e que são obrigados a tê-lo sob condições de sofrerem penalidades explícitas na própria Lei 10.257/01 por improbidade administrativa.
III. O QUE SÃO CADEIAS PRODUTIVAS (CP), CENTROS EDUCACIONAIS TECNOLÓGICOS (CVT) E ARRANJOS PREODUTIVOS LOCAIS (APL)?
O conceito de Cadeias Produtivas – CP é usado de forma imbricada às atividades que:
a. Geram negócios e ocupação de mão de obra local e regional
b. Aumentam ou melhoram o uso dos recursos naturais e humanos
c. Incrementam o capital fixo e o uso do capital social básico em geral ocioso
d. Dão escala a produção agrícola para a viabilização de agroindústrias
e. Aumentam, racionalizam e aperfeiçoam obras de infra-estrutura econômica e social.
O IPEA conceitua cadeia produtiva ”como o conjunto das atividades que participam das diversas etapas de processamento ou montagem que transformam matérias-primas básicas em produtos finais. O elo entre segmentos, ou entre firmas, é feito pelo mercado”
Existem duas visões objetivas sobre cadeias produtivas, isto é, uma fragmentada e outra sistêmica. A primeira muito usada no Estado de Pernambuco tem o risco de está acumulando ineficiências pelo alto nível de atomização de atividades, comprometendo a competitividade e a possibilidade de sobrevivência dos integrantes da cadeia. Já a visão sistêmica, teorizada por Michael Porter com o título de “cadeia de valor” ou “sistema de valor”, trata de todo o conjunto de fornecedores, produtores e clientes. Sua perspectiva é desenvolver a cadeia produtiva desde o consumidor final. Lamentavelmente pela grande fragmentação das cadeias produtivas no Estado é muito pouco desenvolvida a visão sistêmica.
Em termos territoriais as cadeias produtivas se apresentam segundo os seguintes tipos:
• Locais i microrregionais, principalmente na agricultura
• Estaduais e macrorregionais como é o exemplo da construção civil
• Nacionais como é exemplo o setor têxtil e de confecções
• Internacionais como é exemplo da indústria automobilista.
Em seus afazeres cotidianos a equipe técnica da SETIS-SECTMA vem elaborando, desenvolvendo e implantando uma série de projetos do Programa Inova Pernambuco. Muito deles para atender emendas parlamentares, que de fato fazem parte de diferentes cadeias produtivas, ainda, muito distantes de serem sistematizadas e articuladas em APL na concepção da AD-DIPER da SDEC sob patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Industrial e de Comércio Exterior – MIDIC (GTP APL).
A categoria de Arranjo Produtivo Local – APL representa uma visão ou elo territorial e funcional da cadeia produtiva.
As cadeias produtivas (CP), quando sistematizadas em APL, incrementam nos espaços urbanos e rurais, atividades artesanais, manufatureiras e de serviços em pequenos negócios horizontalmente articulados e integrados na economia solidária de forma autogestionária com vistas às escalas produtivas de bens e serviços.
É sabido que os Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT fazem parte do Programa 0471 do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT para a inclusão e desenvolvimento social com sustentabilidade. Eles são espaços de capacitação e treinamento profissional do seu público alvo caracterizado por comunidades pobres. É parte do sistema educacional não formal da capacitação cientifico – tecnológica da sociedade.
Segundo o MCT, os CVT “estão direcionados para a capacitação tecnológica da população e articulação de oportunidades concretas de inserção profissional/produtiva do trabalhador de todas as idades, como uma unidade de formação profissional básica, técnica ou tecnológica, de experimentação científica, de investigação da realidade que o cerca e a prestação de serviços especializados. Leva em conta a vocação da região onde se insere, em articulação com diversos atores – representantes do governo, dos trabalhadores, das empresas e da sociedade civil organizada – no uso de tecnologia digital como um meio de melhoria dos processos produtivos. ”
Seus objetivos gerais, ainda, segundo o MCT são:
• Contribuir para a melhoria do Ensino de Ciência na Região;
• Fortalecer a vocação regional, visando à promoção de desenvolvimento econômico e social sustentável;
• Proporcionar cursos de formação profissional na área científico-tecnológica, e o devido encaminhamento ao mercado de trabalho;
• Fortalecer a capacitação da população, visando à redução de desigualdades sociais, culturais e econômicas;
• Contribuir efetivamente para o desenvolvimento regional, com ênfase em inclusão social e redução de disparidades regionais;
• Fortalecer os Sistemas Locais e Regionais de C,T&I, consolidando-os como fator estratégico de suporte às economias regionais.
Já os objetivos específicos, segundo a mesma fonte, se caracterizam por:
• Assegurar o compromisso dos atores locais com a sustentabilidade das estruturas de apoio ao desenvolvimento tecnológico
• Apoiar ações orientadas para a qualificação e capacitação tecnológicas em áreas relacionadas às vocações locais e/ou regionais
• Reforçar a infra-estrutura instalada de PD&I necessária ao processo de geração, adaptação e difusão do conhecimento científico-tecnológico
• Melhoria na formação e desempenho de professores de Ciências da região
• Difundir o conhecimento científico-tecnológico com vistas ao aproveitamento das vocações regionais, objetivando a geração de renda e o combate à exclusão social
• Promover o estabelecimento de parcerias com universidades, fundações e centros de estudos públicos e privados, visando a futura sustentabilidade dos CVT
• Contribuir e apoiar iniciativas locais de alfabetização e qualificação digital da população.
Por todas essas razões opina-se, aqui, que os CVT, segundo os paradigmas do MCT, têm as seguintes aplicabilidades na categoria de atividade, ou seja, quando se liga o pensamento à ação nas comunidades onde se fazem presentes:
• Difusão e popularização do conhecimento científico-tecnológico
• Promover a difusão e a popularização da Ciência
• Capacitação técnica de recursos humanos por meio de cursos de qualificação
• Contribuir para a geração de emprego e renda
• Aproveitamento das oportunidades locais (arranjos ou processos produtivos locais) e vocações das regiões já existentes ou emergentes
• Contribuir para o aumento da competitividade das micro e pequenas empresas
• Incentivar, articular e promover o desenvolvimento do empreendedorismo por meio da capacitação e/ou atualização tecnológica e gerencial
• Inclusão Digital da população
• Apoio ao Ensino e Capacitação à Distância
• Adensamento das cadeias produtivas específicas da região
• Parceria e apoio a Universidades e Centros de Pesquisa – incentivo à experimentação científica
• Transferência de tecnologias apropriadas como meio de contribuição ao desenvolvimento regional e na diminuição das diferenças regionais
• Promover a Incubação de Cooperativas, Micro e Pequenas Empresas
• Integração às Infovias – Rede de Conhecimento
• Elevar a base científica da população
• Apoio ao Ensino Formal de Educação
• Promover a difusão de tecnologias apropriadas como um meio para buscar a diminuição das diferenças regionais e permitir o desenvolvimento harmônico das mesmas
• Apoiar o desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos que viabilizem o aumento da competitividade e a melhoria dos bens e serviços prestados pelas empresas da região
• Assistência técnica à população com serviços ou produtos relacionados aos processos produtivos locais.
Por ser detentor de um quadro de docentes especializados é de bom grado que os CVT venham possuir um Banco de Elaboradores de Projetos – BEP voltados para as diretrizes e estratégias dos planos diretores participativos dos municípios da RD.
Na medida em que os CVT a partir do Banco de Elaboradores de Projetos definem, em nível de RD, os projetos básicos e projetos-modelo insertos nas cadeias produtivas os APL devem encarregar-se dos projetos complementares em toda sua plenitude.
A SECTMA através da SETIES e da Secretareia das Cidades e, quiçá, da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos – SEDSDH devem negociar e supervisionar a implantação, o fomento e o controle do Banco de Elaboradores de Projetos – BEP, sito no CVT, com uma equipe no mínimo interdisciplinar, cujo objetivo principal é elaborar os projetos-modelo (para financiamento pelo PRONAF e, eventualmente, do FNE) devidamente imbricado aos projetos básicos cujas linhas de produção foram apontadas no plano diretor participativo do município.
Eventualmente, o BEP do CVT pode e deve indicar ou mesmo elaborar os projetos complementares demandados pelos APL que envolvem os municípios das Regiões de Desenvolvimento do Estado, particularmente, onde situam-se os mega projetos do Governo Federal em Pernambuco. Para tanto, serão identificados, selecionados, cadastrados e devidamente organizados os agricultores e unidades agroindustriais, artezanais e industriais que livremente demonstrarem interesse por uma ou várias linhas de produção dos projetos básicos definidos para cada um dos projetos da União que podem e devem ser consubstanciados em projetos-modelo para serem executado pelos agentes privados sejam eles agricultores ou não com financiamento do PRONAF. Os projetos-modelo podem ser coletivos (associativos) ou individuais. Em casos especiais pode ser mobilizada as linhas de financiamento do FNE e, eventualmente, do PROFAT, da CAIXA ECONÔMICA e do BNDES.
Cabe inicialmente ao Conselho Gestor ou Conselho de Administração da Prefeitura Municipal negociar as devidas parcerias público-privadas, junto com a SETIES, especializar e cadastrar a equipe técnica do BEP junto ao BNB, BB , CAIXA ECONÔMICA e ao Conselho de Desenvolvimento Sustentável (CDS) do Estado de Pernambuco e, se necessário, junto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (CMDS) de cada município que demande os serviços do BEP do CVT sejam eles parte ou não dos APL onde atua o BEP. Significa dizer que o BEP pode e deve elaborar projetos-modelo para os municíos adjacentes a sua sede municipal.
Vale explicitar que os projetos-modelo elaborados pelo BEP devem extrapolar, em parte, as terras dos cadastrados desde que o seu APL assim o conceba nas suas linhas de produção que constituem os projetos básicos.
Dessa forma o APL pode e deve atender agricultores e unidades produtivas de outros municípios. Dessa forma aceita-se a hipótese do BEP do CVT atender pleitos do INCRA ou mesmo do MST e FETABE na Região de Desenvolvimento do Estado.
A criação do BEP fica, estrategicamente, vinculada aos seus patrocinadores ligados as Confederações: Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultua, sob supervisão da SETIES. Admite-se como patrocinadores do BEP, além da SECTMA, as escolas de nível superior e as organizações de pesquisa e tecnologia, particularmente os Centros Tecnológicos – CT da SECTMA-ITEP e outros devidamente credenciados pela SETIES com total apoio do sistema educacional presencial e a distância.
O BEP do CVT deve incorporar a sua missão o procedimento da análise dos Planos Diretores Municipais Participativos dos municípios (elaborados por força da Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade) e assessorar as prefeituras a consubstanciarem suas diretrizes em projetos na medida em que se coadunem com os APL a que serve e atenda a sua clientela devidamente acreditada pelo órgão gestor.
O BEP deve prestar toda assistência técnica demandada pelo PRONAF (com a devida vênia do Banco do Brasil e do BNB) e assessorar as prefeituras a buscar soluções com vistas a educação ambiental e tecnológica divulgando e aplicando (via projetos-modelo) tecnologias a serem adotadas pela SECTMA no processo de execução dos ditos projetos e, principalmente, da reconstituição e manejo das matas ciliares de todos os mananciais de superfície existente na área de cada projeto-modelo imbricado ao CVT e seus APL. Para tanto, a SECTMA, através da SETIES, como promotora e supervisora pode manter estreita vinculação com o sistema EMBRAPA, com o ITEP, o IPA e a CPRH para bem cumprir tal propósito.
As ações do BEP podem, entre outras,serem resumidas no seguinte:
• Formular, viabilizar e prestar assistência técnica aos projetos-modelo financiados pelo sistema creditício do PRONAF elaborado pelo BEP
• Fixar em todos os projetos-modelo além das linhas de produção apontadas no PMMIS para seus APLs. Como projetos básicos deve a equipe técnica do BEP privilegiar ações de reflorestamento das matas ciliares de todos os recursos hídricos de superfície na área de cada um dos projetos-modelo que elaborar estabelecendo um novo manejo onde se insere plantas nativas e exóticas de alto valor ambiental, econômico e social
• Proteger, em caráter especial, as áreas de entorno das nascentes dos riachos e suprimir a degradação da área com cobertura vegetal onde ela se apresenta com sinais de erosão
• Resgatar no projeto-modelo o conhecimento útil tradicional associado ao cultivo e as técnicas para uso da biodiversidade do Bioma da Caatinga de forma preservacionista
• Obedecer sempre as diretrizes da Agenda 21 de Pernambuco e, também, da Agenda 21 local se existir no município.
Grosso modo, sugere-se que a equipe técnica e de docentes do BEP seja treinada de forma holística e visão sistêmica das cadeias produtivas e tenha a presença de pelo menos um representante das seguintes categorias profissionais:
• Economista
• Engenheiro Agrônomo
• Zootecnista
• Engenheiro de Pesca
• Sociólogo ou Assistente Social
• Veterinário
• Engenheiro Civil
• Biologo
• Arquiteto e
• Técnicos Agrícolas.
Admite-se que o orçamento do BEP nos CVT façam parte inicialmente da parceria SETIES-Prefeitura e, posteriormente, deve se autofinanciar e receber prêmios das mencionadas Confederações como reconhecimento de sua efetividade profissional devidamente articuladas ao Sistema S.
Vale salientar, também, que a Secretatia de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos – SEDSDH, através do seu Programa Pernambuco no Batente, esforça-se em dotar sua clientela egressa do Programa Bolsa Família para atividades socio-produtivas através da dinamização de sete cadeias produtivas (reconhecidas por ela como APL) em 41 municípios distribuídos pelas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado. Curiosamente, seus projetos, em muito se assemelham aos da SETIS-SECTMA-ITEP, lamentavelmente, não conectados aos já em implantação por aquela SETIES. Encontram-se, ainda, desconectados e desarticulados aos CVT e aos CT da SECTMA-ITEP que, por sua vez, atuam sem quaisquer complementações com a Fundação de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Agronômicas – IPA, vinculado ao sistema nacional da EMBRAPA.
O Autor deseja esclarecer que na produção dos textos esforçou-se em fugir da lógica cartesiana e dos seus paradigmas que justificam o pensar linear (ciência cega no dizer de Morin). Contrapõe a ela algumas categorias do pensar complexo onde se conecta tudo com tudo fugindo da cegueira científica de departamentalização e setorializar, simplificar e disciplinar o conhecimento técnico-científico.
Os pressupostos de articulações que devem orientar os CVT devem refletir as relações: políticas, sociais, tecnológicas, ambientais, culturais e educacionais a partir das seguintes questões:
• Qual o contexto filosófico, sociopolítico e cultural onde o CVT está inserto?
• Que concepção de ente humano se tem e se pretende ter pela sua ação político-pedagógica?
• Que princípios e valores devem ser defendidos para a sua formação?
• O que se entende por cidadania e como o CVT pretende praticá-la?
• A formação e a vivência da cidadania tem sido o foco do trabalho pedagógico do CVT?
• Como o CVT deve responder às aspirações dos discentes, seus pais e dos docentes?
• Qual o papel do CVT diante de outros formadores de opinião ou educacionais?
As cadeias produtivas quando sistematizadas em APL incrementam, nos espaços urbanos e rurais, atividades artesanais, manufatureiras e de serviços em pequenos negócios horizontalmente articulados e integrados na economia solidária de forma autogestionária com vistas às escalas produtivas de bens e serviços.
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – APL
Para elaboração de APL é necessário proceder os seguintes passos:
a) O censo dos recursos humanos na área delimitada abrangendo os fundos de terras com vistas ao ajuste da demografia à cultura e à situação socioeconômica e ambiental
b) Os estudos do meio físico compreendendo:
• Clima e hidro climatologia
• Água do ponto de vista da hidrogeologia e hidrografia com indicações precisas sobre potencialidade de uso armazenagem e disponibilidade para: consumo humano e animal, pisci-carcinicultura e irrigação
• Solos com referenciais, às aluviões, aos cultivos e às vegetações neles existentes, às vocações além da pedologia à luz de levantamento por satélites e ou aerofotogramétrico em escala convincente às atividades programadas nos projetos básicos e projetos-modelo
• Relevos seguindo a mesma estratificação usada para os solos (pedologia) como também de topografia e cartografia
c) Os meios econômicos sociais e ambientais, a partir de considerações sobre:
• Estrutura fundiária
• Atividades produtivas e de florestas, seguindo a estratificação de solos e relevos
• Vida urbana e rural
• Sistema viário e de eletrificação
• Aspectos socioculturais tendo, em vista: a educação, a saúde pública e privada, as organizações comunitárias, o tamanho médio das famílias, a situação de lazer e entretenimento
• Tipos e características das unidades produtivas agrícolas, agroindustriais e industriais
• Infra-estrutura utilizada
• Disfunções do desenvolvimento rural – urbano e seus impactos ambientais
• Uso das terras
• Nível tecnológico
• Indicadores de desenvolvimento urbano e humano
d) A participação e opinião das comunidades quanto a:
• Crédito
• Assistência técnica
• Incentivos
• Eletrificação
• Agroindústrias
• Indústrias
• Comercialização e mercados
• Estrutura agrária
• Capacitação e treinamento
• Artesanato
• Pesquisas e experimentação
• Recursos de água, solo, relevo e vegetação
• Turismo local
• Estratégia da Agenda 21 de Pernambuco e princípios do Estatuto da Cidade.
A participação em tela é buscada através de técnicas de pesquisas com entrevistas e questionários, bem como pela aplicação do método de resolução de problemas e a elaboração de oficinas de trabalho (Workshop) visando os meios institucionais–administrativos a partir da análise da missão e da realidade das organizações e agentes federais, estaduais e municipais de desenvolvimento sustentável e das ONGs voltadas ou existentes na área do APL.
Ainda, nessa parte, são analisadas:
• Necessidade de se resolver as diferenciações Inter setoriais e intermunicipais
• Diferentes políticas públicas para diferentes realidades
• Distintas possibilidades de desenvolvimento e sustentabilidade
• Valorização da sociedade civil organizada
• Reconhecimento das experiências locais
• Necessidade do zoneamento
• Questão ambiental vista à luz da Agenda 21 de Pernambuco
• Questão urbana e rural segundo a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade.
Os Arranjos Produtivos Locais – APL são conceituados, entendidos e compreendidos quando sistematizam em rede de relacionamentos as cadeias produtivas de um território as atividades econômicas, sociais e ambientais, objetivando:
a. Especialização e espacialização produtiva em determinadas áreas de um território
b. Interdependência e complementaridade das ações produtivas dos bens e dos serviços das cadeias produtivas
c. Mobilização dos atores e dos agentes relevantes do território
d. Redução dos custos de produção dos bens e serviços, particularmente das transações no âmbito da circulação das mercadorias
e. Busca dos diferentes graus de desenvolvimento institucional-administrativo em arranjos organizacionais para a sustentabilidade dos empreendimentos
f. Maior emulação e competitividade da produção local e transformação das vantagens comparativas em vantagens competitivas na economia
g. Inserção maior e eficaz nos mercados: local, regional, nacional e mundial
h. Identificação e a qualificação dos gargalos nas esferas: pública, privada, e da economia solidária includente
i. Avaliação do risco de financiamento e creditício dos empreendimentos
j. Mitigação dos impactos ambientais para a sustentabilidade das ações produtivas dos bens e serviços ofertados
k. Logística.
O Banco do Nordeste do Brasil conceitua o desenvolvimento sustentável local como: “um processo de articulação, coordenação e inserção dos empreendimentos empresariais associativos e individuais, comunitários, urbanos, rurais, com nova dinâmica de integração socioeconômica, de reconstrução do tecido social, de geração de oportunidades de trabalho e renda”. Tudo isso, para atuar por meio da mobilização dos atores com vistas a estabelecer objetivos e metas que compõem o plano de ação do que eles chamam de polo. (Na prática, nada mais é ao que se conceitua como arranjos produtivos locais – clusters). Estes são formados ou constituídos de elos da cadeia produtiva que metodologicamente obedecem aos seguintes passos:
• Mapeamento da cadeia produtiva e dos seus elos para definição e operacionalização
• Diagnóstico participativo
• Validação do processo
Os APL se contrapõem a ações que se dão de forma pontual, desordenada e atomizada, sem perspectivas de atacar as diversas dimensões do desenvolvimento sustentável local de uma só vez. Isso tem como resultado a ausência de princípios de complementaridade, simultaneidade, escala mínima de operação e de acessibilidade aos chamados serviços de desenvolvimento das organizações governamentais ou não que se sobrepõem às suas atuações em determinado espaço ou local.
Por essa razão, os arranjos produtivos locais têm metodologia baseada em ações participativas entre os atores locais para elaborarem seus planos de ação, junto aos agentes, com vistas à (ao):
• Conhecimento da realidade
• Construção de uma visão de futuro
• Discussão dos estudos técnicos
• Consolidação e sistematização crítica dos dados e informações
• Realização de eventos de mobilização dos atores
• Negociação dos programas e projetos
• Gerenciamento dos projetos ou do plano de ação.
Grosso modo os arranjos produtivos locais (APL), em nível nacional e internacional são classificados em:
• Clusters de sobrevivência
• Clusters fordistas
• Clusters transnacionais
• Clusters emergentes.
Para o conhecimento da realidade, procede-se no APL aos estudos essenciais, já descritos anteriormente, em que se fundamenta a visão de futuro desejado.
A construção da visão de futuro desejado dá-se com a conscientização e a explicitação do propósito unificador dos arranjos produtivos locais de conformidade com as discussões técnicas dos estudos fundamentais.
A consolidação e a sistematização crítica dos dados e das informações são explícitas: nos estudos de mercado demandados pelos projetos multifuncionais e multissetoriais sustentáveis. Estes com base nos projetos básicos, projetos-modelo e projetos complementares de montante e jusante as unidades produtivas – UP. Para tanto, há que se ter a realização de eventos de mobilização dos atores com vistas à consolidação, à articulação e à integração dos projetos para as necessárias negociações.
Para completar, é criada a organização de gerenciamento dos projetos ou plano de ação desde o Comitê de Liderança passando pelo Comitê Operacional; com uma Assessoria Consultiva visando orientar a equipe de coordenação para a rede do sistema ou dos arranjos produtivos locais.
Além dos arranjos, em lide, já existentes nos estados do Brasil, cabe para Pernambuco contemplar, agora, aqueles segmentos já estudados pelo Ministério de Relações Exteriores/SEBRAE, ou seja: calçados; confecções; rapadura; metal-mecânico; mel de abelha (apicultura); polpa de frutas e sucos; gemas (pedras semipreciosas); ovinocaprinocultura; móveis de madeira e software.
Os estudos, em tela, insertos no projeto Programas Setoriais de Promoção e Competitividade do Nordeste -PSPC-NE foi coordenado pela MACROTEMPO, São Paulo, através do Economista Luciano Coutinho (Ex-Presidente do BNDES) em parceria com a CEPLAN (Consultoria Econômica e Planejamento) Recife, coordenada pelos Economistas Tânia Bacelar e Leonardo Guimarães.
Aos consultores, de cada segmento, coube elaborar: o perfil preliminar do segmento com um breve e objetivo diagnóstico; a análise qualitativa através de entrevistas dirigidas; o relatório da análise quantitativa dos questionários aplicados pela rede SEBRAE e as análises das oportunidades externas com proposições e cadastros a partir das informações colhidas pelas embaixadas brasileiras nos principais mercados.
Ao SEBRAE, sob a coordenação de David Hulak, coube a tabulação dos questionários da pesquisa ao nível de empresas e ao Ministério das Relações Exteriores, sob a coordenação de Isabel Faveiro, coube a responsabilidade das informações, colhidas pelas embaixadas, em diferentes países, a partir de cadastros e de feiras internacionais.
Os estudos e as pesquisas foram realizados obedecendo a três módulos, a saber:
• Módulo 1. Análise quantitativa dos questionários aplicados pela rede SEBRAE
• Módulo 2. Análise qualitativa a partir de entrevistas orientadas e visitas às empresas de cada segmento
• Módulo 3. Análise do ambiente internacional a partir das informações fornecidas pelas embaixadas brasileiras nos principais mercados.
Os consultores contratados, por segmento, foram os seguintes: calçados, Jair Amaral Filho; confecções, Maria Cristina Pereira de Melo; rapadura, Célia Maria Lira Cavalcante e José Policarpo Rodrigo Lima; metal-mecânico, Girley Brasileiro; mel de abelha, Osmil Torres Galindo Fiho; polpa e sucos de frutas, José Heraldo Guimarães; gemas (pedras semipreciosas) Reinhard Richard Wegner; ovinocaprinocultura, Geraldo Medeiros de Aguiar e Luiz Pereira da Silva; móveis de madeira, Luiz Pereira da Silva e Geraldo Medeiros de Aguiar e software, Cláudio Marinho. Esses estudos devem necessariamente ser consultados para a sistematização das cadeias produtivas em APL nos estados nordestinos.
Espera-se, portanto, que os estudos não sejam destinados às prateleiras das entidades patrocinadoras, mas que sejam devidamente implementados em arranjos produtivos locais (clusters) com vistas ao desenvolvimento sustentável com geração de oportunidades de trabalho, de emprego e de renda nas RD de Pernambuco, particularmente no semiárido.
O somatório dos projetos básicos, modelo e complementares constitui os projetos multifuncionais multissetoriais sustentáveis. Esses podem e devem dar sentido de factibilidade e praticidade às intenções dos programas explícitos nas propostas de aplicação dos recursos constitucionais. Elaborados pelos órgãos gestores e, se possível, com as linhas de financiamento do PRONAF e FAT já que o fundo constitucional, por força de Lei, só financia o processo de produção e não o de serviços e de capital de giro.
Convém salientar que a abordagem aqui apresentada é diferente daquela que orienta alguns programas de desenvolvimento regional em execução, ou seja, parte do dimensionamento maior dos mercados de produtos agrícolas processados, nos níveis internacional, nacional, regional e local.
Definidos os padrões mercadológicos para os produtos, segundo os tipos de mercado, prospecta-se, então, a estrutura de preços e de custos que viabilizem os projetos multifuncionais integrados. Com segurança de sucesso e viabilidade econômica e social, identificam-se os ofertantes devidamente insertos em tipologias de unidades produtivas (UP) de acordo com as condições concretas dos espaços onde se processarão os projetos-modelo sob indicação ou responsabilidade dos CVT.
Dessa forma, essa proposta se viabiliza ao atender as unidades ofertantes, após o completo dimensionamento e a estruturação da produção a serem realizados nos mercados supracitados. É em função desses que serão estabelecidos os padrões de preço das produções oriundas dos projetos-modelo.
É fácil ver que os projetos básicos têm dimensões regionais e espacializada; os projetos-modelo, além de atenderem a essas dimensões, representam os cortes cronogramáticos e de posicionamento geográfico; e os projetos complementares as dimensões multissetoriais e multifuncionais dos serviços de desenvolvimento, dos processamentos primários e secundários e das características mercadológicas e da logística recomendada para o APL.
Admite-se, como otimização dessa abordagem, a presença nos projetos multifuncionais integrados, de bolsas de futuros, “trading”, “comodities” e, possivelmente, de multicooperativas nacionais. Também, se deve estudar a possibilidade de outras empresas de varejo como Bom Preço, Extra Pão de Açúcar, bem como de atacado como Sadia-Perdigão, Carrefour, Makro etc., serem consultadas para participar dos projetos multifuncionais e empresas nacionais e estrangeiras.
Não se pode omitir o papel e as ações das organizações públicas privadas como: IEL, SENAI, SESC, SENAC, SESI e SENAR, para o sucesso e a implementação dos projetos multifuncionais e multissetoriais sustentáveis explícitos em APL.
O exame de viabilidade econômico-financeira e da logística dos projetos multifuncionais e multissetoriais sustentáveis dos CVT e dos APL compreenderão, entre outros, os pontos a seguir:
• Levantamento dos investimentos necessários em ativo fixo
• Levantamento dos investimentos em capital de giro
• Identificação das fontes de captação de recursos de tais investimentos, inclusive, os externos
• Cronograma de aplicação dos recursos para concretização de empreendimentos
• Estimativa dos custos fixos e variáveis necessários à produção e à circulação das mercadorias
• Estimativa de receitas e benefícios econômicos e sociais.
Do ponto de vista privado, será calculada a rentabilidade econômica dos capitais diretamente produtivos investidos nas unidades de produção. Para tanto, serão utilizados os indicadores:
• Relação benefício/custo; taxa interna de retorno
• Tempo de retorno do capital investido
• Capacidade de pagamento do beneficiário.
Do ponto de vista das organizações governamentais sejam elas municipais estaduais ou federais, objetiva-se conhecer:
• O coeficiente de capital (capital/unidade de produto)
A capacidade de absorção da força de trabalho e seu nível de produtividade em confronto com o volume de recursos investidos
O valor agregado pelas unidades de produção e sua distribuição entre os fatores
As outras incidências macroeconômicas, como: incremento da arrecadação tributária, incremento dos coeficientes de exportação, de emprego, de renda e de especialização da mão-de-obra
• A logística.
Observa-se que o volume de recursos dos Fundos Constitucionais, do PRONAF e do FAT deve não somente atender aos requisitos em termos de desenvolvimento regional, como também aos da modernização da economia, concebida segundo a visão etnocêntrica do termo. Igualmente, o conceito de modernização aqui empregado necessariamente implicará desenvolvimento regional como resposta atualizada aos paradigmas dos artigos 159 e 170 da Constituição de 1998 e o foco de inclusão social.
É importante, da mesma forma, que os recursos dos Fundos Constitucionais, do PRONAF, do FNE e do FAT tenham poder de alavancar outra fonte, especialmente as de origem externa, de sorte que se gerem programas de desenvolvimento regional, sub-regional e local integrado e sustentável aos objetivos da política de recursos humanos e de desenvolvimento nacional e regional, de forma sustentável com vistas prioritárias a geração de oportunidades de negócios, de emprego e de renda.
IV. RESUMO EXECUTIVO
A ideia principal a ser desenvolvida no presente Resumo Executivo é remeter a governança pública e privada do Estado para a economia solidária e economia pública com vistas à sustentabilidade da política desenvolvimentista do Estado de Pernambuco, agora, de forma consolidada em nível local.
IDÉIAS PARA UM PLANO DE GESTÃO
De maneira esquemática e sumária apresentam-se, a seguir, as idéias que seguem a tese básica ou propósito unificador de um MODELO AUTÔNOMO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL fundamentado em três economias diferenciadas:
Economia privada capitalista de livre iniciativa competitiva e excludente com ênfase no valor de troca e que atua em espaços dinâmicos sob a égide do FMI, da OMC e do Banco Mundial
Economia pública para controle das políticas econômicas com vistas à gestão pública nacional via organizações estatais, privadas (o sistema S) e da economia social (ONGs)
Economia social-comuniária ou solidária, includente, descentralizada com ênfase no valor de uso e valor desenvolvimento e que transformam as áreas letárgicas, podendo ser financiadas pelo BNDES, BB, BNB, BASA, CAIXA, BID e BIRD.
O PLANO DE GESTÃO envolvendo o PDPM e CDS pode em suas linhas gerais seguir o modelo abaixo, podendo em muito ser melhorado e aperfeiçoado:
O Ministério de Planejamento aponta para os ministérios setoriais do Governo Federal a forma de articulação da Política Econômica, Social, Ambiental e de Infra-estrutura com a execução multifuncional e setorial, a partir do plano plurianual (PPA) e do orçamento de cada ministério e possíveis contrapartidas dos estados e dos municípios.
Em cada Região de Desenvolvimento (RD) do Estado cria-se uma Unidade de Planejamento (UPL) com lógica semelhante à da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), com o papel de filtrar e sistematizar as linhas de ações dos planos diretores municipais da RD e encaminhar ao CDS. Também, procede-se aos estudos de impactos e efeitos de jusante e montante dos projetos DOS COMPLEXOS INFRA-ESTRUTURAIS E INDUSTRIAIS DE BASE da União e do estado em cada RD.
O Governo do Estado articula suas ações de desenvolvimento via Conselho de Desenvolvimento Sustentável (CDS e PDPM) que recebe das Unidades de Planejamento (UPL) das RD e dos municípios as diretrizes e as prioridades de seus respectivos planos diretores (Lei 10.257/01) com vistas às suas políticas de desenvolvimento sustentável. Este (segundo princípios da Agenda 21 municipal, estadual e brasileira) deve produzir seus respectivos planos plurianuais e orçamentos programa.
A sequência lógica do fluxo do modelo de gestão obedece ao significado oriundo do Plano Diretor Participativo Municipal filtrado pela UPL das RD do Estado (via CDS e PDPM) e do Governo Federal (Ministério do Planejamento, ministérios setoriais, empresas públicas, autarquias) e, ainda, das agências ou superintendências regionais.
O CDS/PDPM articula as secretarias setoriais e empresas do Estado com vistas às ações a serem executadas ou implantadas em cada município da RD estadual.
O subsistema de gestão da RD/Município deve fundamentar-se em: decisão, planejamento, programação, execução, financiamento, controle/avaliação do desenvolvimento sustentável.
Para o caso específico da agricultura familiar sugere-se, no modelo de gestão, que a mesma fique sob a égide da economia social-comunitária sob a responsabilidade de uma assessoria específica do CDS/PDPM capaz de desburocratizar, flexibilizar e articular todas as suas atividades aos arranjos produtivos locais (APL) via PRORURAL, PROMATA, PROMETRÓPOLIS, etc.. Em outras palavras há que se desburocratizar e democratizar todo o processo de gestão de incentivo e de assistência técnica às atividades de produção e circulação dos bens econômicos produzidos na RD e, principalmente, do Município. Para tanto, há que se evitar todo e qualquer tipo de engessamento na articulação entre os agentes e os atores do desenvolvimento em todas as dimensões que se apresentem.
A premissa básica do modelo de gestão é democratizá-lo de maneira a livrar a agricultura familiar da tutela dos poderes executivos (federal, estadual, municipal) e da burocracia, em muito desnecessária, dos agentes financeiros e dos agentes controladores.
Por tudo que se expôs nesse capítulo sobre o PDPM sugere-se que no mesmo haja articulação e conexão entre as cadeias produtivas (CP) com os CVT, Cooperativas Incubadoras e diferentes APL existentes na RD e no município.
O ilógico na produção e implementação do PDPM é a omissão dos agentes federais e estaduais ignorarem e se omitirem da necessária integração de suas ações programáticas com aquelas explícitas para o PDPM.
Na forma como hoje se implementam os DDPM já elaborados e consubstanciados em Lei Municipal não passam de mais um documento de intenções descartáveis sem quaisquer serventias para o município transformando-se em mais uma Lei morta do município. O Estado, Ministérios e Autarquias não podem ignorar e se omitirem de incorporar aos seus planos, programas, projetos e ações as diretrizes, estratégias, programas e projetos do PDPM sobre os quais são elaborados o PPA, a LDO e a LOA do município.
Todo PDPM deve englobar o município como um todo. Promover a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do município e do território sob sua área de influência. É inaceitável o divórcio das ações governamentais dos ministérios e das secretarias de Estado com o PDPM.
OS COMPLEXOS INFRA-ESTRUTURAIS E INDUSTRIAIS DE BASE – CIIB
Os Complexos Infra estruturais e industriais de Base (CIIB) constituem-se em conjuntos de cadeias produtivas que têm origem nas mesmas atividades ou convergem para as mesmas indústrias e mercados. A noção de complexo está fortemente ligada em sua formação, construção e transformação à noção de tecnologia capaz de mudar espaços letárgicos em espaços dinâmicos. De fato, os elos das cadeias produtivas se articulam e se conectam entre si que são determinados pelas relações tecnológicas. Nesse sentido, os limites de um Complexo podem ser traçados a partir das especificidades da base tecnológica em comum que são distintas das de um outro CIIB.
Para melhor explicitar o desempenho dos instrumentos de políticas conhecidos como CVT e APL tornam-se necessário que se proceda a uma indicação dos seus fatores de êxito em um processo de integração de ações junto aos CIIB (projetos estruturadores) que ora se executam e se planejam para Pernambuco. Para tanto, se discorre, aqui, das ações que podem ter os CVT e APL junto aos ditos CIIB em termos de programas-projeto.
O primeiro grande CIIB tem sua origem nas tentativas de se fazer a TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, pelo MIR (hoje Ministério de Integração Nacional – MIN), e estava voltado para todos os estados beneficiados pela almejada Transposição. O mesmo foi pensado sob a interveniência da SUDENE, CNI (IEL) como termo aditivo ao ACORDO DE COOPERAÇÃO firmado entre o Ministério da Integração Regional (MIR) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a interveniência da SUDENE e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 21 de junho de 1994.
Note-se que naquela oportunidade o IEL desenvolvia um amplo programa de educação pela qualidade na Amazônia com vistas a formar profissionais, principalmente, paramédicos e outros profissionais de saúde com vistas a melhorar os níveis de vida dos ribeirinhos naquela imensa Região do Brasil.
Hoje, a execução da Transposição das Águas do Rio São Francisco, pelo Governo Lula, com recursos assegurados para a obra pelo PAC, e sob a responsabilidade da construção pelo Exército Nacional parece ser oportuna. Esse é o momento de a Secretaria de Articulação do Governo mobilizar a SEPLAG, SECTMA-SETIES e a AD-DIPER-SDEC a envidarem esforços para revisitarem e reativarem aquele Convênio. Tudo isso, com vista a especificar aquele acordo ao âmbito do Estado de Pernambuco. Acredita-se que dificilmente o Presidente da CNI, Deputado Dr. Armando Monteiro Neto, fiel aliado do Governador Eduardo Campos, não apoie tão importante pleito que é político, social, ambiental e economicamente correto tanto para a União quanto para o Estado e para as pretensões políticas de ambas as autoridades no Estado.
OBJETIVO-SÍNTESE
Opina-se que a SEPLAG, SECTMA, CHESF e CNI juntamente com outros parceiros convidados e envolvidos no Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco como DNOCS, CODEVASF, IBAMA, INCRA, SUDENE, CONAB e EMBRAPA, articulem um processo de mobilização e ação estadual para completar e viabilizar o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO PELA QUALIDADE.
Esse Programa tem o fim último de buscar meios e formas, nos municípios beneficiados, de melhoria do padrão de vida dos pernambucanos promovendo mudanças comportamentais que reduzam desigualdades entre pessoas, a fome, e a miséria através de processos educativos presenciais e a distância. Objetiva, ainda, a sustentabilidade do desenvolvimento com as inclusões: escolar, ambiental e tecnológica nos municípios contemplados. Os CVT e APL tem aí excelente aplicabilidade com vistas a sustentabilidade desse grande e esperado CIB.
As intenções do Complexo, aqui esboçado, resumem-se no seguinte:
a) Formar e fomentar parcerias entre entidades federais, estaduais, municipais e privadas além do sistema S e de empresas públicas, autarquias, fundações, ONG (nacionais e estrangeiras) com vistas a desenvolver nas áreas das Transposições das Águas do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco os projetos de:
• Conquista da cidadania
• Geração de emprego via laboratórios de terreno e de empresas
• Desenvolvimento das cadeias produtivas (APL e CVT)
• Ensino profissional (presencial e a distância via CVT)
• Turismo local.
b) A interação da SEPLAG, SECTMA, SDEC, CHESF, e CNI como parceiros no Projeto Transposição das Águas do Rio São Francisco reforçam a necessidade dessa discussão estendendo-a aos aspectos político-educacionais para uma sociedade mais justa, uma vez que o objetivo final é a mobilização por melhor padrão de vida.
c). Nesse sentido, todo um processo de sensibilização e motivação de segmentos representativos das lideranças sociais deve ser desenvolvido visando convergir vontades políticas, idéias criativas e ações sincronizadas capazes de melhorar o cotidiano de vida do cidadão que vive nos municípios beneficiados pelo CIB Federal no Estado de Pernambuco.
d). Almeja-se com essa ação articuladora com base na formação de parcerias nos segmentos: educacionais, ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos, levem o Estado a:
• Um momento-situação em que os pernambucanos desfrutem de condições apropriadas para a realização de seus anseios como cidadãos de um mundo moderno, participando do constante processo evolutivo da humanidade, desde os mais elementares direitos humanos ao mais elevado grau de assunção de seu dever político-social-ambiental com seus contemporâneos e futuras gerações
• Uma conjuntura que faculte aos indivíduos viver em uma ambiência propícia ao desenvolvimento individual e coletivo, em que o bem-estar de todos signifique necessariamente o ideal de cada um
• Dias em que o potencial humano e demais fatores naturais ou criados pelo progresso das ciências, tecnologias, artes e políticas, sejam meios de felicidade a todos garantidos.
RESULTADOS PRETENDIDOS
O Complexo, em lide, através de CVT e APL certamente, traz para Pernambuco os seguintes resultados:
a) Crianças que exerçam uma vivência sadia e divertida em uma sociedade que lhes faculte educação profissionalizante, alimentação, habitação, lazer, amor e exemplos capazes de lhes permitir desenvolver valores condizentes com a magnitude humana, isto é, ver e conviver com o outro
b) Jovens sintonizados com perspectivas promissoras da felicidade e de seus sonhos, cônscios de seu papel numa sociedade em permanente mudança, críticos, atuantes, responsáveis, partícipes nas suas comunidades de seu próprio destino
c) Adultos conscientes e cumpridores de seu papel social e ambiental no exercício de suas funções políticas, gestão de interesses públicos, da iniciativa privada e coletiva, na família e, principalmente, na sociedade.
Para esse fim pode-se enumerar as seguintes diretrizes e prioridades:
1. Pertinência das ações propostas com as vocações das regiões de desenvolvimento do Estado e a vontade política dos segmentos sociais municipais devidamente fortalecidos pela União e pelo Estado
2. Ações que direta e indiretamente, contribuam a curto, médio e longos prazos com a solução de problemas da qualidade de vida dos pernambucanos tais como:
• Geração de ocupações autônomas e de empregos com redistribuição de renda gerada localmente
• Formação profissional presencial e a distância
• Saneamento básico para higiene e saúde pública
• Alfabetizações: escolar, ambiental e tecnológica
• Ensino fundamental profissionalizante
• Cultura, lazer e turismo
• Meio ambiente e educação ecológica
• Seguranças alimentar do abastecimento e nutricional
• Habitação popular construídas em mutirões
• Pesquisas e tecnologias acessíveis as atividades produtivas e de circulação de mercadorias
• Produção de bens e serviços
• Segurança social e urbanidade.
ÂMBITOS GENÉRICOS DE ABRANGÊNCIAS
Essas se dão sinoticamente nos âmbitos de:
1. Mudança comportamental coletiva compreendendo programas, projetos e atividades que visem, através da formação de opinião e novas atitudes, a credibilidade no país, resgatar valores de respeitabilidade e responsabilidade sobre as instituições sobre as organizações sociais: buscar autoafirmação do cidadão e da nacionalidade
2. Geração de meios para o desenvolvimento sustentável compreendendo: planos, programas, projetos e atividades que visem à solução objetiva de problemas de infra-estrutural educacional e de saúde desenvolvidos em função das peculiaridades e demandas sociais e ambientais dos municípios e de suas respectivas regiões de desenvolvimento e, principalmente, das pequenas comunidades.
3. A agregação de ocupações empreendedoras e geração de empregos e empreendimentos executados necessariamente de forma articulada e com participação organizacional, financeira e material dos parceiros, em consonância com os planejamentos: governamental, municipais e setoriais incluídas as campanhas permanentes de reduções de desperdícios e de capacidade ociosa além dos planos de geração de riquezas e de desenvolvimento tecnológico
4. Resgate da dívida e promoção social que compreende as ações dos programas e projetos que visem à escolarização básica da população do ensino fundamental, erradicação dos analfabetismos: escolar, ambiental e tecnológico dos contingentes adultos e a profissionalização de forma a dotar os indivíduos de condições pessoais ao exercício da cidadania.
ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS
Para o êxito do presente programa-projeto no CIIB em questão é necessário que se tenha em conta as seguintes diretrizes/orientações a priorizar:
1. O exercício da cidadania através de programas, projetos e atividades, que gerem bem-estar social pelo usufruto direto, pelos cidadãos envolvidos: PRIMAZIA DO ENTE HUMANO SOBRE AS ORGANIZAÇÕES E PLANOS
2. Ações voltadas à educação presencial e a distância, à saúde e às condições de sustentabilidade através do emprego e outras formas de ocupações e gerações de riquezas individuais e coletivas: PRIMAZIA DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA SOBRE OS ASPECTOS COMPLEMENTARES DA INDIVIDUALIDADE
3. As formas associativas de atuação ambiental e social dos cidadãos na busca de soluções dos problemas comunitários: PRIMAZIA DO PARSERISMO (ASSOCIATIVISMO) SOBRE O INDIVIDUALISMO NA VIVÊNCIA SOCIAL E AMBIENTAL
4. No planejamento estratégico situacional os critérios de alocação, aglutinação, composição de recursos, negociação e meios, projetos e atividades que propiciem maior multiplicação de resultados e permanência local dos efeitos da ação interinstitucional: PRIMAZIA DO COMPROMISSO COM OS RESULTADOS SOBRE A DISPERSÃO DOS MEIOS.
FONTES DE FINANCIAMENTOS E PARCERIAS
Para a atuação direta em nível político, estratégico situacional e operacional dos presentes projetos complementares são identificados como parceiros:
NA INSTÂNCIA FEDERAL – Ministério da Integração Nacional e Secretaria de Desenvolvimento Territorial, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério de Minas e Energia, Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Turismo e Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, Ministério da Cultura, SUDENE, Ministério do Planejamento e Orçamento e todas as Instituições/organizações públicas do sistema S (SEBRAE, SENAI, SESC, SESI, SENAR, SENAC, etc).
Em tese as parcerias são:
• PARCEIROS ESPECÍFICOS NA INSTÂNCIA FEDERAL – Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis (IBAMA), Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
• NA INSTÂNCIA ESTADUAL – As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Social, de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, de Infra-estrutura, de Desenvolvimento, Turismo e Esportes, de Educação, de Produção Rural e Reforma Agrária, Assembléia Legislativa, Conselhos temáticos estaduais e municipais (da área do projeto) tais como: Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Comitê da Bacia Hidrográfica do Ipojuca, Comitê Estadual da Reserva da Biosfera e Secretaria Estadual de Cultura e outras organizações voltadas para a cultura.
• NA INSTÂNCIA ESPECÍFICA ESTADUAL – Prefeituras municipais, Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR), TELEMAR/OI e CEASA.
• NA INSTÂNCIA DAS ORGANIZAÇÕES ESTRANGEIRAS E INTERNACIONAIS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial/BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Governo Britânico (DFID), Fundação Alemã de Cooperação Internacional (GTZ), Agência de Cooperação Técnica Japonesa (JICA), Fundação Interamericana (IAF), OXFAN, Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (DED), Caritas Holanda, Visão Mundial, The Wallace Global Fund (ICCO), entre outras.
• NA INSTÂNCIA OFICIAL DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS – BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Desenvolvimento do Nordeste (BNB) com as linhas de crédito do PRONAF, do FAT e do FNE.
• Instâncias de ensino, ciência e tecnologia – UFPE, UFRPE, UPE, UNIVASF, UNICAP, IFET, ITEP, etc. Empresa SUAPE, Fundação IPA, Fundações de pesquisa e de cultura como a FUNDAJ.
• Outras instâncias – Escolas e Faculdades privadas, empresas certificadoras, Associações e Cooperativas e organizações comunitárias e sindicais.
• Muitas das parcerias aqui mencionadas se concretizarão durante a implantação dos projetos (do PMMIS) com a devida comunicação e vênia da SECTMA.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
No semiárido pernambucano as ações educativas e culturais devem voltar-se para os CIB do Governo Federal exigindo a preparação das populações abrangidas para adoção de novos hábitos que, inexoravelmente, repercutirão no desenvolvimento sustentável dos municípios fortalecendo as condições dos pernambucanos que neles habitam para sua redenção política, social, econômica, ambiental e tecnológica.
O presente Programa-Projeto nos CIB privilegia a capacitação de pessoas por meio de ações integradas numa parceria institucional Governo-iniciativa privada, com ênfase na utilização de tecnologias avançadas de educação à distância e presencial que permitam a otimização dos recursos e da capacidade ociosa dos agentes de desenvolvimento e do capital social básico existente, em face dos objetivos preconizados.
A seguir procedem-se algumas considerações sobre os projetos estruturadores do Governo Federal, em Pernambuco, onde o Autor ver grandes perspectivas de êxito dos instrumentos de políticas: econômica, social, tecnológica e ambiental que são os CVT e os APL.
TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
No caso concreto das transposições das águas do Rio São Francisco vale esboçar se os seus efeitos de montante e jusante no Estado de Pernambuco com vistas a possíveis ações dos CVT e dos APL..
Possui esse CIB dois grandes eixos: um no sentido Norte, na direção do Ceará, e o outro no sentido Leste, na direção do estado da Paraíba (Mapa 1 ). Um dos eixos passa por Salgueiro que é importante pólo intermodal de transporte por rodovias pavimentadas e pela ferrovia Transnordestina e, o outro, pelo Sertão do Moxotó onde se encontram os municípios de menor índice de desenvolvimento do Brasil e de Pernambuco como são os casos de Manari e Inajá.
É a partir de Salgueiro que o Governo de Pernambuco negocia a expansão de um ramal da ferrovia Transnordestina até o município de Petrolina com vistas a atender aquele importante elo de fruticultura irrigada e, também, de vitivinicultura do sub médio curso do Rio São Francisco.
Mapa nº 1
A Transposição das Águas da bacia do Rio São Francisco
Fonte: Ministério da Integração Nacional
EFEITOS PARA FRENTE E PARA TRÁS DA TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
DIAGRAMA REPRESENTATIVO SIMPLIFICADO
Vale lembrar que o CIIB, em lide, está imbricado aos dois importantes projetos do Governo Federal no Semiárido brasileiro e pernambucano, logo, pode ser aplicado, também, a eles, isto é, a Ferrovia Transnordestina e ao Canal do Sertão.
Essa é a razão de, a seguir, se apresentar as localizações e os diagramas sinóticos de efeitos de montante e de jusante daqueles CIIB.
A FERROVIA TRANSNORDESTINA
Constitui-se no projeto de caráter estruturador mais importante para a economia do Nordeste e de Pernambuco. Trata-se de uma ferrovia que vai atravessar todo o território de Pernambuco no sentido Leste-Oeste, viabilizando, de forma definitiva, a logística do Estado, conforme se percebe no Mapa 2.
A ferrovia corta áreas de grande potencial econômico como: os Agrestes e os Sertões do Estado, onde estão operando várias cadeias produtivas como o APL de Confecções e, também, cruzará o território onde se encontra localizada a maioria das unidades avícolas do Estado, produtoras de carne de frango e de ovos e da ovinocaprinocultura.
Ainda, vai atravessar o cerne do território gesseiro do Estado, conectando assim os principais municípios produtores de gesso e gipsita com o Porto Industrial de SUAPE e, também, o de Pecém no Ceará.
A construção da Transnordestina terá um impacto positivo para o APL de Fruticultura Irrigada, associado a outros APLs e, em particular, a expansão da agricultura da soja na região dos cerrados maranhense e piauiense que vai demandar grandes quantidades de gesso agrícola para realizar a calagem dos solos, principalmente, nas atividades agrícolas e agroindustriais do Canal do Sertão.
A Transnordestina, na medida em que permita o transporte de passageiros, com carros leitos com restaurante, pode ter um impacto significativo nas atividades de turismo em Pernambuco, fenômeno difícil de ser atualmente dimensionado em função de seu grau de amplitude espacial. As regiões de desenvolvimento serão sem exceções beneficiadas pelo projeto em função dos atrativos turísticos que dispõem e que podem gerar uma demanda substancial por serviços de turismo.
Mapa Nº 2
Ferrovia Transnordestina
Fonte: Ministério da Integração Nacional
EFEITOS PARA FRENTE E PARA TRÁS DA FERROVIA TRANSNORDESTINA EM
DIAGRAMA REPRESENTATIVO SIMPLIFICADO
CANAL DO SERTÃO
O quadro abaixo e o Mapa 3 apresentam o raio de atuação do Canal do Sertão. Quando devidamente concluído, absorverá as terras de melhor qualidade existentes no semi-árido do Estado de Pernambuco para irrigação. São terras planas, propícias para a mecanização e aptas para qualquer tipo de cultura perene ou temporária.
Trata-se de um projeto que gerará mais de 300 mil empregos diretos, afora os indiretos. As três primeiras áreas apresentadas no quadro abaixo se situam no Estado da Bahia e as demais em Pernambuco. Os efeitos para frente e para trás desse projeto são de indizíveis vantagens comparativas e competitivas com vistas a agro energia para o Brasil e o mundo com incomensurável reflexo na economia dos estados de Pernambuco e da Bahia.
Na hipótese do Canal do Sertão se concretizar, haverá uma demanda substancial por gesso agrícola, (APL do Gesso) apropriado como corretivo do solo. Serão 150 mil hectares de cultura de cana de açúcar ou assemelhados demandando gesso agrícola.
Como a Transnordestina vai até a cidade de Eliseu Martins no Estado do Piauí, não muito distante de Uruçui, principal centro produtor de soja daquele estado, o custo de transporte do gesso agrícola produzido nas cidades do Pólo Gesseiro do Araripe até a zona de produção agrícola será mínimo..
Pernambuco. Projeto Canal do Sertão. 2007
PROJETO PATAMAR ÁREA TOTAL IRRIGADA (ha) ÁREA DE CANA-DE-AÇÚCAR (ha) PRODUÇÃO DE CANA (T) PRODUÇÃO
DE AÇUCAR (T) PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL (L)
Cruz das Almas 1º 27.740 11.000 1.210.000 133.100 100.430.000
Salitre 1º 30.000 15.000 1.650.000 181.500 136.950.000
Baixio do Irecê 1º 46.000 40.000 4.400.000 484.000 365.200.000
Pontal Sobradinho 2º 27.950 11.000 1.210.000 133.100 100.430.000
Araripina/Trindade 3º 18.900 11.000 1.210.000 133.100 100.430.000
Parnamirim/Ouric.uri
3º 36.100 11.000 1.210.000 133.100 100.430.000
TOTAL Vale do SF 186.690 99.000 10.890.000 1.197.900 903.870.000
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – Pernambuco
Mapa Nº 3
O Canal do Sertão
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – Pernambuco
EFEITOS PARA FRENTE E PARA TRÁS DO PROJETO CANAL DO SERTÃO (83.650 ha em PE)
DIAGRAMA REPRESENTATIVO SIMPLIFICADO
Finalmente, apresentam-se 10 itens de observações sobre as ações da SECTMA-SETIES que preocupam o Autor:
1) Ver as perspectivas e meios de colocar o EJA como instrumento de erradicação dos analfabetismos: escolar, ambiental e tecnológico. Ver documento sobre os bônus alfabetização elaborado pelo Autor
2) Prover as escolas públicas dos municípios de ensino fundamental da SEDUC de um forte componente de educação ambiental prática via diferentes tipos de hortas escolares e sistemas conviviais de artes e ofícios para os alunos e membros de sua família
3) Revisitar e redefinir os Centros de Educação Vocacional (talvez nos moldes do que foi o ensino industrial básico, de artífices e de iniciantes agrícolas nas escolas industriais e agro técnicas) para articulá-lo com o ensino profissional técnico de nível médio identificados pelas pesquisas da SECTMA. Criar uma ponte entre o EJA e os Centros Vocacionais Tecnológicos já existentes no Estado
4) Focar e induzir as escolas técnicas e agro técnicas a darem respostas condizentes àquelas demandadas para o ensino profissional técnico de nível médio e superior identificadas nas pesquisas realizadas e contratadas pela SECTMA
5) Criar meios e instrumentos que façam os Centros Tecnológicos da SETIES poderem articular-se ao sistema S das confederações nacionais da: indústria, agricultura, comércio e transportes (que tem recursos garantidos) com vistas a dinamizar e darem suporte tecnológico e ambiental de ensino presencial e a distância aos grandes projetos estruturadores federais no Estado a partir de um ensino profissional de qualidade. Ver documento do Autor a esse respeito
6) Articular e complementar o ensino profissional dos CVT com os dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, SEAI, SENAR e SENAC e das escolas agrotécnicas federais com o sistema educacional da Secretaria de Educação do Estado
7) Redefinir e dotar o Estado de um Programa Multissetorial e Multifuncional Sustentável capaz de absorver, integrar e unificar os diferentes conceitos e práticas de elaboração e concepção de ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS com vistas, a atualização e modernização do Sistema de Educação Profissional Técnica presencial e a distância da Secretaria de Educação. A esse respeito o Autor fez um esforço teórico-metodológico em 77 páginas intitulado “Considerações sobre Políticas, Estratégias, Planos, Programas e Projetos de Desenvolvimento Sustentável” e que até a presente data não teve qualquer parecer ou comentários das autoridades técnicas da SETIES. Todo pensamento do Autor está voltado para a efetividade dos grandes projetos estruturadores que se situam no Estado de Pernambuco. Também, o documento “Plano de Desenvolvimento Produtivo das Regiões de Desenvolvimento”. Esse ensaio nas suas 91 p. se faz menção aos assuntos dos APL, particularmente, ao APL do Gesso.
8) O Autor acredita, ainda, que a SECTMA, como um todo, deve se preparar e se reorganizar para dar resposta, em Pernambuco, às estratégias de desenvolvimento regional objeto do Plano do Ministro Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Note-se, também, que o Plano, em tela, foi discutido com todos os governadores dos estados nordestinos, o ministro e o Presidente Lula, no dia 25/05/09 na Bahia. O Plano é uma demanda direta do Presidente Lula para o Nordeste e que, certamente, coloca e está na pauta dos futuros candidatos à Presidência da República e dos governos estaduais nas eleições de 2010.
9) Ajustar e ordenar o ITEP e a UPE como entidades formadoras da massa crítica de nível superior e de pós-graduação necessárias ao sistema educacional dos CVT e da logística dos APL que devem se inserir na nova finalidade e premissa daquele sistema.
10) Propõe-se, finalmente, que a SECTMA-SETIES negocie, em nível institucional no Estado, (SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO) um “Plano Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Municipal –PEDSM” 40 p. cujas idéias básicas, em termos de sugestões, se encontram em documento do Autor entregue ao coordenador da SETIES José Ênio Brandão.
Vale sinalizar e lembrar que a SETIES dispõe de um dos melhores diagnóstico já realizado na educação profissional no Estado de Pernambuco intitulado “Estudo Diagnóstico da Educação Profissional em Pernambuco”. Esse documento, de junho de 2008, merece uma especial atenção pela profundidade dos problemas diagnosticados. Os autores Maria das Graças Corrêa de Oliveira, Lia Parente Costa, Vera Regina Albuquerque Canuto e Ridelson Carneiro da Silva estão de parabéns pelo alto nível dos estudos apresentados e que são de grande valia para a SETIES e para o ensino profissional do Estado.
Flor da orquídea terrestre brasileira Sobrália macranta. Fonte: Google






